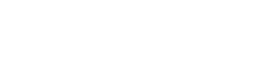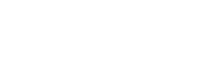Escrevendo à Princesa Isabel sobre o falecimento de D. Pedro II, Affonso Celso formulou estas palavras que hoje é forçoso reconhecer que tiveram algo de proféticas: "A história de D. Pedro II ainda é cedo para tentar escrevê-la. Daqui a cem anos, assumirá proporções legendárias". Quando se fala em legenda, habitualmente se imagina uma versão lendária, fantasiosa e pouco credível de algum fato ou de alguma pessoa; e imediatamente se pensa em algo oposto à realidade; se é lenda, não pode ser realidade.
Na verdade, etimologicamente, legenda provém do gerundivo latino e significa “coisas para serem lidas” ou “coisas que devem ser lidas”. Ou seja, legenda é o relato de algo que deve permanecer na memória, que não deve ser esquecido. Nesse sentido etimológico, legenda e história são sinônimos. É próprio da legenda, como aliás também da História, conservar o que deve ser conservado, aquilo que é essencial, deixando de lado o secundário, o episódico, o colateral. Também é próprio dela concentrar a atenção nos focos luminosos, deixando de lado as sombras. Daí as legendas, muitas vezes construídas natural e organicamente pela sucessão das gerações, outras vezes construídas artificialmente e até com propósitos políticos e/ou ideológicos bem determinados, por vezes se afastarem mais ou menos da realidade. Mas toda legenda sempre tem, pelo menos, um fundo de realidade. Ela exprime, se não a realidade inteira, pelo menos aquilo que a realidade tem de mais essencial.
No caso de D. Pedro II, isso é muito claro. De fato, 130 anos depois da morte, em Paris, no modesto Hotel Bedford, de D. Pedro II, 130 anos depois de seu cortejo fúnebre que reuniu mais de duzentas mil pessoas (cortejo similar ao do celebradíssimo Victor Hugo), depois do desfile histórico de tantas e tantas mediocridades que vieram depois dele, forçoso é reconhecer que Affonso Celso tinha razão.
Nascido a 2 de dezembro de 1825, D. Pedro II era filho de nosso primeiro Imperador, D. Pedro I, e de sua esposa, a Imperatriz Leopoldina. A 7 de abril de 1831, data da abdicação de seu pai, com cinco anos e quatro meses, tornou-se Sua Majestade Imperial o Senhor D. Pedro II, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil. Não é o caso de recordar aqui todo o período das Regências, período de grande turbulência, em que o Brasil não se fragmentou numa série de republiquetas única e exclusivamente devido à autoridade moral daquele menino. Foram 9 anos agitados, que constituíram, como geralmente se reconhece, uma espécie de pré-experiência republicana.
Subindo efetivamente ao trono em 1840, com apenas quatorze anos e meio, D. Pedro II conseguiu o que não tinham conseguido líderes políticos de grande envergadura que haviam atuado durante a Regência – um Marquês de Olinda, um Feijó, um Vergueiro, um Lima e Silva, um Monte Alegre. Muitas foram as dificuldades que enfrentou o Império, de ordem interna e de ordem
externa. Internamente houve revoluções no Rio Grande do Sul (a famosa Revolução Farroupilha, iniciada em 1835, durante a Regência, e que só em 1845 chegaria ao fim), em São Paulo e Minas (a Revolução Liberal de 1842), em Alagoas (a revolta de 1844) e em Pernambuco (a Revolução Praieira, em 1848).
Também externamente não faltaram dificuldades, durante o Segundo Reinado. Tivemos, entre outros conflitos no Prata, a guerra contra Oribe e Rosas (1851-1852), e a longa e cruel guerra contra o ditador paraguaio Solano López, a qual durou perto de seis anos, de 1864 a 1870, e custou aos cofres públicos brasileiros quantias astronômicas para a época. Ainda externamente, tivemos a célebre questão Christie, na qual a personalidade, a firmeza e o prestígio de D. Pedro II obrigaram a orgulhosa Grã-Bretanha a reconhecer nosso direito e a passar pela humilhação de enviar um embaixador extraordinário até a tenda de campanha do Imperador, em Uruguaiana, a fim de pedir formalmente, diante dos presidentes aliados da Argentina e do Uruguai, desculpas em nome da Rainha Vitória.
Apesar de todas essas dificuldades, a obra gigantesca de D. Pedro II prosseguiu ao longo dos 49 anos de seu reinado. Consolidada a paz interna, após os primeiros anos em que ainda fumegavam os rescaldos do período regencial, tivemos internamente um prolongado período de estabilidade constitucional e de autêntico progresso.
Politicamente, as instituições evoluíram de modo muito natural e adaptado às condições de nosso país e à índole de nosso povo. Sem se afastar da letra e do espírito da Constituição de 1824, monumento jurídico legado ao Brasil pelo primeiro Imperador, pouco a pouco o Segundo Reinado foi desenvolvendo certa forma peculiar de parlamentarismo monárquico, um parlamentarismo monárquico que teve a sabedoria de não imitar servilmente modelos estrangeiros, mas de se adaptar às nossas necessidades e aos nossos modos de ser. Esse o segredo do sucesso das instituições políticas do Império. Sem o Imperador D. Pedro II no leme da nau do Estado, dificilmente se poderia ter chegado àquela feliz fórmula de equilíbrio entre a representação popular (a Assembleia Geral – Câmara dos Deputados + Senado) de um lado, e a autoridade do soberano, com o Poder Moderador (assistido pelo Conselho de Estado), de outro.
Socialmente, o Segundo Reinado registrou progressos muito sensíveis. Lembre-se apenas, para não nos estendermos mais, a abolição gradual e irreversível do cativeiro. Para essa abolição foi muito saliente o papel desempenhado pelo monarca, que não deixou de agir em toda a medida que lhe permitiam as suas funções de Chefe de Estado numa Monarquia Constitucional-Parlamentar. Foram não pequenas as oposições políticas e de grupos econômicos para que a escravidão fosse abolida, mas D. Pedro – e sua filha D. Isabel – não desistiram e conseguiram chegar à Lei Áurea. Segundo o líder abolicionista Joaquim Nabuco, a parte que tocou ao Imperador, em tudo o que se fizera em prol da libertação, foi essencial. Também no primeiro impulso para a imigração – indispensável, na época, para substituir a mão de obra escrava – foi grande o papel que coube a D. Pedro II.
Culturalmente, o Brasil teve um desenvolvimento notável: nas ciências, nas artes, nas inovações técnicas, estávamos, na época, entre as primeiras nações do mundo.
E é bem sabido queD. Pedro II dava, nesse sentido, um impulso pessoal muito grande, inclusive auxiliando jovens talentosos que jamais teriam podido desenvolver suas potencialidades sem os auxílios e subvenções que o Imperador lhes concedia. E, bem entendido, concedia de seus próprios recursos, não de verbas do governo.
Do ponto de vista econômico-financeiro, e apesar das aludidas dificuldades internas e externas, o progresso foi espantoso, a ponto de nossa moeda ser das mais sólidas e estáveis de todo o mundo.
Não é o caso de desenvolver aqui – nem seria isso possível – cada um dos aspectos da atuação de D. Pedro II em benefício do Brasil. Isso seria tarefa para muitos, não para um só, e tomaria muitas e muitas publicações. Vou, aqui, destacar unicamente um traço da atuação de D. Pedro II: o combate sistemático que fez, ao longo de toda a sua vida, contra a corrupção. Como sabem os leitores deste artigo, é um tema muito atual.
Corrupção procede do latim corruptio, palavra que tem dois significados. Em primeiro lugar, significa rompimento, quebra, e em segundo lugar, por via de consequência, apodrecimento. Corrupto, ou corrompido significa, pois, apodrecido.
Nunca se falou tanto em corrupção quanto na atualidade. Em 1954, ano em que nasci, Carlos Lacerda, ao que parece, foi quem cunhou a expressão "mar de lama" para designar o clima de profunda imoralidade administrativa daquele fim de "Era Vargas". No entanto, em comparação com o que veio depois, aquilo tudo era inocente brincadeira de crianças. Ainda havia, naqueles tempos, reatividade na opinião pública. Havia roubalheira desenfreada, mas havia um certo pudor, uma certa vergonha, por onde os que roubavam faziam-no escondido, tinham medo de sair à luz do dia. Hoje, as coisas são muito diferentes. Isso não é somente no Brasil, mas é generalizado em todos os continentes.
No Brasil de nossos tempos, o que está havendo é uma ruína moral imensa. Os Poderes de Estado, em todos os níveis, estão encharcados de corrupção. O pior é que as novas gerações se vão formando – ou melhor, se deformando – com a mentalidade de achar tudo isso inevitável e normal. Livros de escola impingem nas mentes juvenis a ideia de que sempre foi assim mesmo, que já no passado havia corrupção e que só não rouba quem é bobo. Antes, os ladrões roubavam, mas às escondidas, porque tinham vergonha de serem ladrões. Hoje, os ladrões roubam às escâncaras, e quem tem vergonha é o homem honesto, porque ser honesto é sinônimo de ser bobo. Antes, havia hipocrisia: homens que roubavam tomavam ares de pessoas honestas, de varões probos. A hipocrisia é, sem dúvida, algo muito ruim, algo muito feio e censurável. Mas a hipocrisia é, segundo um autor francês, a homenagem que o vício presta à virtude. Hoje, não há mais hipocrisia, porque o vício já não envergonha. O hipócrita se transformou no cínico, e cínico jactancioso, seguro de sua impunidade e ufano de sua esperteza! Não é difícil compreender a profunda queda moral, o verdadeiro abismo que essa mudança representa.
Uma noção que precisa ficar bem clara é que a tendência à corrupção é uma tendência permanente no espírito humano, em todas as épocas, sob todos os regimes políticos. Cada indivíduo ama a si próprio e ama os próximos na medida em que lhe são próximos. Ou seja, ama a sua família, mais do que a seu vizinho, ama a seu vizinho mais do que a uma pessoa que more em outra cidade, ama um compatriota seu mais do que um estrangeiro etc. É próprio de cada indivíduo procurar o seu bem individual, que se prolonga na sua família, nos seus amigos mais próximos,
depois nos menos próximos. Essa procura do bem individual, de si, é boa, é justa. Sem esse legítimo amor próprio, no melhor sentido do termo, não há estímulo para o trabalho, para o progresso, para o autoaperfeiçoamento. É claro que pode haver hipertrofia, excesso nesse amor próprio, que se transforma em egoísmo. O mandamento é “Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”, mas a tendência má de todo homem é colocar-se em primeiro lugar, acima dos outros e acima mesmo de Deus.
Além do bem individual, há também o bem comum, o bem da sociedade como um todo. O bem comum não é a mera soma dos bens individuais, como pretende certa escola liberal. Ainda que todo mundo procure o próprio bem individual retamente e dentro das medidas razoáveis, mesmo assim o bem comum ficará abandonado. S. Tomás de Aquino, comentando a Política, de Aristóteles, explica que os dois bens, o individual e o comum, não são da mesma natureza, mas diferem profundamente na sua natureza. E diz que, mesmo que não tivesse havido pecado original e os homens todos fossem retos e santos, ainda assim seria preciso haver governo e haver autoridade, porque cada indivíduo procuraria seu bem individual, mas a sociedade, no conjunto, precisaria ter alguém que cuidasse dela.
Se formos ver bem, no fundo o problema da corrupção, que tanto nos aflige, está precisamente nisso: o conflito irremediável entre o bem individual e o bem comum. Todos os homens têm, em decorrência de natureza decaída, tendência para o egoísmo, para procurar o seu proveito individual acima de todas as coisas.
Isso é inevitável, sempre existiu e sempre existirá em todas as eras históricas, em todos os regimes políticos.
Vejamos agora como se portou D. Pedro II, diante dessa triste tendência da natureza humana. O papel de D. Pedro foi, no Império, um papel moralizador. Sempre dentro da lei, sempre respeitando escrupulosamente os limites que a Constituição lhe impunha, soube impor um regime moralizado. Oliveira Lima chegou a falar em “ditadura da moralidade”, numa conferência que fez na Sorbonne, e retomou o tema no livro “O Império Brasileiro”.
D. Pedro II desempenhou essa função moralizadora de modo exímio sob o regime parlamentar que vigorou plenamente na fase mais brilhante do Império. O papel do Imperador não era o de um administrador – isso competia aos gabinetes que se sucediam, conforme iam oscilando as preferências do eleitorado expressas na formação da Câmara dos Deputados –, mas era o papel de um atento vigilante da moralidade administrativa.
O Imperador não agia policialmente sobre as pessoas, nem tinha poderes constitucionais para tal. A vigilância era exercida por meios muito mais sutis, mas também muito mais eficazes.
Em primeiro lugar, D. Pedro II era um exemplo vivo de moralidade. Era escrupulosíssimo em tudo o que dissesse respeito a dinheiros públicos. A dotação que ele recebia anualmente, para seu sustento e para o de suas residências, foi fixada em 1841 e manteve-se a mesma, nunca tendo sido reajustada, até a proclamação da República, sem embargo de ter decuplicado, nesse período, o orçamento da despesa geral do Império. A dotação do Imperador era em grande parte destinada a auxílios e subvenções, pois D. Pedro II julgava seu dever procurar pelo Brasil jovens de talento, para ajudá-los a se formarem em condições favoráveis. O pintor Pedro Américo e o compositor Carlos Gomes, entre inúmeros outros, tiveram seus estudos pagos pelo Imperador.
O simples exemplo de D. Pedro II já era um fator assaz poderoso para moralizar a vida pública brasileira. Mas o Imperador não se limitava a dar o bom exemplo. Ele usava ainda outro sistema muito eficiente. Vale a pena recordá-lo: trata-se do legendário, misterioso e pitoresco "caderninho preto", no qual tinha o costume de anotar, com seu "lápis fatídico", os deslizes dos mais variados gêneros que, de fonte segura, lhe chegavam ao conhecimento.
O Imperador acompanhava com atenção dezenas de jornais, do Rio de Janeiro e das Províncias, e mantinha-se, portanto, bem informado de tudo; ademais, durante suas longas e frequentes viagens pelo Brasil, ia metodicamente observando, ouvindo, interrogando. E ia, sobretudo, anotando no célebre caderninho. Quando algum ministro propunha que determinado fazendeiro fosse agraciado com um título de nobreza, ou que determinado juiz fosse promovido a tribunal superior, ou que algum sacerdote fosse indicado bispo, essas promoções só seriam assinadas pelo Imperador se, na sua memória privilegiada, ajudada pelo famoso caderninho, nada constasse contra a pessoa em questão. Se constasse que o fazendeiro maltratava os escravos, se sobre a inteira correção do juiz pairasse alguma dúvida, se o sacerdote não levasse vida correta, as promoções não se fariam de modo algum. O Imperador punha objeções e, caso o ministro insistisse, contava o que sabia... O ministro normalmente precisava reconhecer que o Imperador estava bem informado. Em certos casos mais escandalosos, quando D. Pedro II, na Corte ou em viagem, encontrava algum faltoso, não deixava de repreendê-lo (às vezes, conforme a gravidade, até publicamente) ou pelo menos de, por uma nem sempre muito discreta frieza, dar a entender seu desagrado em relação àquela pessoa.
A eficácia desse método era espantosa. Sem administrar diretamente, sem chamar a si atribuições que pela Constituição não lhe competiam, sem ferir o regime parlamentar que entre nós funcionou tão bem, o monarca desempenhava em todo o Império um extraordinário papel moralizador.
Existem inúmeros relatos que, se não fosse estender demais esta exposição, eu poderia aqui contar. Vou me limitar a um único, reportado por Alfredo d´Escragnolle Taunay, Visconde de Taunay (1843-1899), em suas Memórias. Relata ele que, sendo ainda bem jovem, certo dia se aproximou dele um amigo de família, político influente e membro do governo, e lhe disse: – Se quiser ganhar bastante dinheiro, aplique todas as suas economias comprando ações de tal Companhia (e citou o nome de uma bem conhecida companhia de transportes coletivos no Rio de Janeiro). Ouça o que eu lhe digo: dentro de poucos dias as ações dessa Companhia vão subir como um rojão. Siga meu conselho e não se arrependerá.
Taunay não seguiu o conselho, porque não se interessava por esse tipo de especulações. Mas teve a curiosidade de, pelos jornais, acompanhar a cotação das ações da tal companhia. Os prognósticos do bem informado ministro, entretanto, não se confirmaram: as ações despencaram e seus possuidores tiveram consideráveis prejuízos. Algumas semanas depois, Taunay encontrou o amigo numa das ruas centrais do Rio, e não perdeu a ocasião para interpelá-lo: – Ainda bem que não segui seu conselho! Se tivesse feito essa bobagem, teria perdido dinheiro. Como é que me deu um conselho desastrado desses?
• O que é que você quer? – respondeu o ministro – deu tudo para trás por causa do Imperador.
E aí explicou tudo. A tal Companhia, que não estava muito sólida financeiramente, tinha uma concessão de serviço público. Faltavam ainda uns poucos anos para vencer o prazo da concessão. Os membros do governo, que eram amigos dos donos da companhia, queriam salvá-la, e haviam deliberado prolongar o prazo da concessão por um período bem longo, sem que a companhia oferecesse nada em troca desse favorecimento. Era de se prever que, uma vez divulgada pela imprensa a extensão do prazo, imediatamente as ações da companhia teriam uma grande valorização. Acorreriam novos acionistas com capitais e a companhia sairia das dificuldades. Os ministros, jeitosamente, lavraram um decreto redigido de modo a disfarçar o favoritismo, dando a impressão de que a prorrogação do prazo correspondia ao interesse público.
O decreto ficou pronto e foi assinado pelo Ministro da pasta correspondente. Estava tudo certo, faltava apenas a mera rubrica do Imperador. Pois foi na hora da rubrica do Imperador que tudo deu para trás! D. Pedro II estranhou que se pretendesse prolongar o prazo de uma concessão anos antes de terminar o prazo vigente. Sobretudo estranhou que se pretendesse fazer aquilo por meio de um decreto governamental, sem licitação pública que apurasse se outra empresa poderia prestar os mesmos serviços em condições mais convenientes para os cofres públicos e para a população.
• E ele nos olhou tão seriamente que nem ousamos insistir – concluiu o ministro.
Bons tempos aqueles, em que a moralidade administrativa tinha um vigilante como D. Pedro II!
Até no momento de partir para o exílio, o velho imperador ainda deu uma derradeira lição de moralidade: recusou os cinco mil contos de réis que lhe foram oferecidos pelo Governo Provisório, porque se tratava de uma concessão irregular.
Infelizmente, bastou ser afastado o Imperador e as irregularidades foram se tornando tão frequentes que, em pouco tempo, se transformaram em regra. O Governo Provisório da República era, por paradoxo, onipotente (pois dispunha dos mais plenos poderes de mandar e desmandar no País) e inseguro (pois conhecia sua falta de apoio real na opinião pública). Nessas circunstâncias, ele se sentia induzido a usar e abusar dos seus poderes discricionários para conseguir apoios que lhe permitissem permanecer na direção do País. Os fins justificavam os meios.
A leitura de "Fastos da Dictadura Militar no Brasil" (Escola Typographica Salesiana, São Paulo, 1902) – obra clássica e bem documentada, escrita por Eduardo Prado entre dezembro de 1889 e junho de 1890 – permite avaliar o que foram as irregularidades administrativas praticadas pelo Governo Provisório, tais como nomeações de parentes e amigos para cargos elevados, concessões de serviços públicos sem licitação, promoções militares saltando vários graus da hierarquia etc. Bem entendido, em comparação com o que a República viria a fazer em tempos mais recentes, as irregularidades do Governo Provisório pareciam inocentes brinquedos de criança. Mas em comparação com a severa moralidade vigente na administração pública do Império, eram gravíssimos escândalos. Era o começo de uma rampa descendente.
Ouçamos, a respeito do Governo Provisório, o depoimento insuspeito de um dos seus membros: “Aí está – escrevia Campos Salles, futuro Presidente da República, a sua esposa, em carta de 22 de fevereiro de 1891 – o que fizemos. Organizamos a República. Mas quando inventario os atos da administração fico sinceramente abatido, sinto um desgosto profundo, porque a triste verdade é que na escola da imoralidade nunca se fez neste país o que se praticou no governo
provisório. Foi um verdadeiro horror. Só me resta o consolo de não ter concorrido para isso, e, ao contrário, de ter procurado evitar os erros dos próprios companheiros.” (apud Célio Debes. Campos Salles: perfil de um estadista. São Paulo: 1977, vol. I, p. 305-306)
Cabe ainda transcrever um trecho – que costuma ser citado, mas habitualmente truncado, e do qual muito pouca gente conhece o verdadeiro contexto – de outro membro do Governo Provisório, o também insuspeito Ruy Barbosa: “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto... Essa foi a obra da República nos últimos anos. No outro regime, o homem que tinha certa nódoa em sua vida era um homem perdido para todo o sempre – as carreiras políticas lhe estavam fechadas. Havia uma sentinela vigilante, de cuja severidade todos se temiam e que, acesa no alto, guardava a redondeza, como um farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça e da moralidade gerais.” (Obras Completas. Vol. XLI, 1914, t. III, p. 86-87)
Uma pergunta se impõe: se os homens eram exatamente os mesmos, como explicar essa mudança tão rápida?
Numa crônica publicada em 1918, o escritor Monteiro Lobato – insuspeito ele também, porque republicano e até simpatizante do socialismo – respondeu, com brilho literário, a essa pergunta, e ao respondê-la fez justiça a D. Pedro II. Comparou ele o monarca à luz de um baile. Num maravilhoso salão de baile, enquanto há luz, tudo o que é belo, rico e nobre transparece; elevação de modos, distinção, respeito às damas etc. Mas, se de repente se apaga a luz, quase instantaneamente se manifestam os piores lados de todos os presentes. Leiamos seu próprio texto: “Pedro II era a luz do baile. Muita harmonia, respeito às damas, polidez de maneiras, joias de arte sobre os consolos, dando o conjunto uma impressão genérica de apuradíssima cultura social. Extingue-se a luz. As senhoras sentem-se logo apalpadas, trocam-se tabefes, ouvem-se palavreados de tarimba, desaparecem as joias... Como, se era a mesma gente? Sim, era a mesma gente. Mas gente em formação, com virtudes cívicas e morais em início de cristalização. Mais um século de luz acesa, mais um século de catálise imperial, e o processo cristalizatório se operaria completo. O animal, domesticado de vez, dispensaria açamo. Consolidar-se-iam os costumes; enfibrar-se-ia o caráter. E do mau material humano com que nos formamos sairia, pela criação de uma segunda natureza, um povo capaz de ombrear-se com os mais apurados em cultura. Para esta obra moderadora, organizadora, cristalizadora, ninguém mais capaz do que Pedro II; nenhuma forma de governo melhor do que sua monarquia. Mas sobrevém, inopinada, a república. Idealistas ininteligentes, emparceirados com a traição e a inconsciência da força bruta, substabelecem-se numa procuração falsa e destroem a obra de Pedro II." (Revista do Brasil, n° 36, dezembro de 1918, vol. IX, ano III, p. 387/391)
Trata-se, sem dúvida, de um belíssimo texto, muito profundo e verdadeiro do ponto de vista psicológico e sociológico. Note-se a observação arguta de Lobato: “mais um século de luz acesa e o processo cristalizatório se operaria por completo”. Na verdade, o processo foi interrompido e por isso não se concluiu o processo de formação, no povo brasileiro, de um verdadeiro senso de espírito
cívico no pleno sentido do termo. Se D. Pedro tivesse sido sucedido por sua filha, D. Isabel por certo teria continuado a obra iniciada por seu pai. Ela teria sabido, com pulso e firmeza, mas também com sensibilidade feminina, dar prosseguimento ao muito que seu pai fez de bom, adequando e corrigindo o que precisava ser atualizado ou retificado. E sobretudo ela teria, também, continuado sua obra, infelizmente abortada em 1889, de resgate histórico da imensa injustiça cometida contra os antigos escravos. Ela não os teria abandonado, como o novo regime os abandonou. Ela tinha projetos grandiosos para integrá-los condignamente na sociedade brasileira. Mas isso já seria tema para outro artigo.
* * *
Ficam aqui estas reflexões, sobre o papel de presença moralizador exercido no passado por D. Pedro II, na mente e no espírito dos brasileiros. Sirvam elas como homenagem sincera à memória do grande homem que sem dúvida entrou para a História de modo legendário – mas cuja legenda era baseada, muito solidamente, na realidade dos fatos.