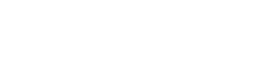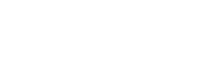O conhecimento científico alcançou tal nível de excelência que veio a exigir – como que em substituição aos chamados “generalistas” – as especialidades. E estas não mais conseguem acompanhar as mudanças e descobertas nas suas próprias áreas de trabalho. Tudo está de tal forma inter-relacionado que atividades específicas são interdependentes. Não há como ignorar o todo. E, em especial, a governança pública. Uma errônea decisão econômica ministerial, por exemplo, acaba por alterar a vida de todos.
Ainda há algumas décadas, esse desafio alcançava exaustivamente também os profissionais da comunicação. E tínhamos que ser, como já se definira, “especialistas em generalidades”. “Passeávamos” pelas mais diversas questões, pelos mais intrincados assuntos sem, no entanto, aprofundarmo-nos em qualquer deles. Um repórter era levado, num mesmo dia, a “cobrir” ocorrências policiais, políticas, esportivas, artísticas. Mas, por fim, a especialização também chegou ao jornalismo.
No fim das contas, porém, o jornalista é um observador. Há décadas, da profissão dizia-se haver “profetismo”. Nada a ver, todavia, com o significado bíblico, religioso. Profeta – há que se lembrar disso – era assim chamado o “acendedor de lampiões” nas cidades ainda sem energia elétrica. Era, pelo menos, a suposição de ter conhecimento de fatos antes de eles se tornarem públicos. Logo, havia, no jornalismo, pelo menos o desejo de levar um pouquinho de luz ao eventual leitor, à comunidade. Tratava-se de um dever, assumido como missão. Àquela época.
Agora, no entanto, chegou o tempo de contar. Sem laivos de saudosismo. Mas com lembranças que possam, talvez, dizer de tudo que houve de acerto e, também, de erros. Não se trata, no entanto, de tolas comparações. Dizer do melhor, do pior seria tolice. Pois cada tempo da vida tem sua própria história e, nele, está o desafio de saber vivê-la. Seja lá, portanto, o que tenha sido, não há como negar termos vivido fantasias que se iam tornando doces ou amargas realidades. Não à toa, foram reconhecidos como os “anos dourados”.
Como, porém, narrar o “quadrar jardim”? Tentemo-lo. Pois, era uma festa da mocidade. À frente da atual Catedral de Santo Antônio – então, Matriz, até meados dos 1940 – acontecia a verdadeira concentração popular. Era o “centro da cidade”, encantador com suas belezas sempre bem cuidadas. Falava-se em “Largo da Matriz”, ladeado pelo “Largo do Teatro”, o belíssimo “Teatro Santo Estêvão” de idade já secular. E, bem próximo, também o “Largo do São Benedito”, da igreja ainda existente. Era o palco, o grande palco.
Às noites de sábados, domingos e feriados o encontro de pessoas – em especial, jovens, adolescentes – poderia ser, metaforicamente, como um enxame de abelhas irrequietas. E aconteciam os flertes – “flirts” – através códigos inesquecíveis: com os olhos, com as mãos, com os leques das moças insinuando propostas excitantes.
Mas... Que os puritanos não inventem ter havido apenas relações castas entre os jovens daqueles anos. Foi a época do “faça o amor, não faça a guerra”. E o amor, literalmente, estava à flor da pele. Na pele. Com o instigante diferencial: era preciso vencer a hipocrisia, as falsas leis de controles sociais e dos corpos. Assim, a criatividade foi inesgotável: fazer serestas, entrar escondido no quarto da amada, furtar flores, o “escurinho do cinema”, sob a copa de árvores frondosas, em ruas sem iluminação. E nos matinhos da cidade. Isso, até a chegada dos motéis.
Simplesmente, havia uma arte de namorar. Pois, antes de mais nada, o amor é arte.
Cecílio Elias Netto é jornalista e escritor.