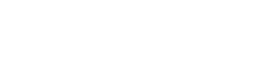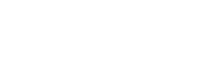Obviamente, recorro ao título da perturbadora reflexão de Schopenhauer, “Sobre o ofício do escritor”. Aconteceu ainda no século XIX, quando preocupante já era a complicada responsabilidade de escrever. E, por ofício, que se entenda o exercício de uma “atividade especializada de trabalho”. Ou seja: escrever, como profissão, é uma “atividade especializada de trabalho”. Logo, realidade diferente de quem apenas “escreve por escrever”. Por diletantismo, por prazer e – até mesmo ou também – por necessidades ou interesses outros.
Tratava-se – há poucas décadas – de uma saga. Os atraídos pela arte enfrentavam uma via crucis, então, sem esperança. Era como que uma conclusão definitiva da sociedade: “artistas morrem de fome”. E as famílias dos desatinados desesperavam-se. Jovens poetas, músicos, jornalistas, cantores eram vistos como “uns desocupados”. E, portanto, gente “sem futuro”.
A publicação de qualquer escrito pela imprensa era, na verdade, como que uma glória para os jovens. Nas redações dos jornais, a seleção fazia-se severa. Entre os próprios profissionais, aliás, as exigências eram constantes. Ai daquele que errasse uma pontuação, uma vírgula fora de lugar. E, caso se tratasse de colocações pronominais ou de concordância verbal, pobre do autor do delito! Pois era estigmatizado.
Havia polêmicas incríveis a respeito de questões gramaticais. Cavalheirescas, civilizadas. O respeito à língua e o conhecimento dela eram tidos como algo intocável. Nas escolas, a prioridade estava no ensino da matemática e no aprendizado e exercício da língua pátria. Na imprensa, sabia-se que falar, por exemplo, a palavra exceção era uma coisa; e outra, escrevê-la. Honrava-se a avaliação do imortal Olavo Bilac: “Última flor do Lácio, inculta e bela; és, a um tempo, esplendor e sepultura (...)”
Nas redações, um dos profissionais mais preparados e respeitados era o Revisor. Suas correções tornavam-se incontestáveis. E, a cada uma delas, o redator do texto era chamado para observar o que houvera, não apenas, de errado, mas de falha até mesmo estilística. Um simples cacófato, por exemplo. Nas oficinas, linotipistas, paginadores faziam observações, sugeriam alterações. Um deles, o inesquecível Ditinho, completava os cuidados finais em relação aos textos. Lembro-me de – ao início de minhas atividades, ainda adolescente – o Ditinho ter-me chamado com um berro: “Ô, Turquinho. Veja a besteira que você escreveu!” E ensinou-me: não é “beneficiência, garoto! É beneficência!” Aprendi.
Escrever e publicar era, pois, uma aventura. E temerária. Pois o ousado escrevinhador tornava-se, inexoravelmente, alvo de análises, de críticas, de observações. Por isso, as redações de jornais eram verdadeiras escolas, onde se aprendia no dia a dia. Não se tratava, então, de diplomas, de títulos. Atentava-se para o talento e a vocação dos iniciantes. E de entender não se tratar apenas de uma profissão, de um trabalho. Havia como que a missão de informar. Jornalismo era serviço à comunidade, à população. E árduo.
O grande problema sempre esteve na “última flor do Lácio”. Que exige estudos permanentes. É um não acabar de consultas, de averiguações. E de descobertas. Ora, ainda, recentemente, aprendi que o beija-flor, ao pipilar, zinzilula. E que o cão, ao latir, também cuinca! Mas, se isso eu escrevesse ao início de meu aprendizado, o redator-chefe haveria de despedir-me de imediato. Pois, o mesmo Schopenhauer já orientara: “a limpidez da escrita é o reflexo da clareza do pensamento”.
Como ofício, portanto, escrever é um aprendizado. Sem fim.
Clique para receber as principais notícias da cidade pelo WhatsApp.