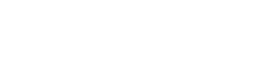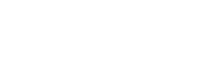Feliz ou infelizmente para mim mesmo, nunca consegui contar com o futuro. E, desde a infância, soube, porém, conviver com fantasias. Com desejos. No entanto, foram sempre anelos para tudo acontecer rapidamente. Se possível, no dia seguinte. Foi assim – igual ou especialmente – no amor. Mariana – a mãe de meus filhos, tão cedo tendo partido – e eu éramos quase crianças quando nos apaixonamos. Ela, com 13 aninhos. Eu, recém-chegado aos 14. Foi em 1954. E, até do dia, ainda me recordo: 31 de outubro.
Pois bem. Aquele era o ano dos grandes acontecimentos. Suicídio de Getúlio, bicentenário da cidade de São Paulo, eleições em conflito, prenúncio da chegada de Juscelino, mundial de futebol. E os cabelos compridos, a minissaia, Beatles, Elvis Presley, rock’n’roll, Vinicius, Tom... Enfim, eram o que passou a ser reconhecido como “anos dourados”. Foi quando – diante de tanta aventura – propus à minha Mariana: “Vamos fugir?” Ela aceitou, mas – movida pelo instinto feminino – queria saber dos detalhes. Fugir para onde, viver do quê, com o quê? Eu não soube responder. Mas, alguns anos depois – e nós dois tomados pelo fogo da paixão – encontrei a solução: “Vamos para Cuba ajudar Fidel Castro e Che Guevara na revolução de lá. Podemos cortar cana.”
Meus pais, porém, descobriram. E ele – com a serenidade de uma sabedoria nascida do sofrimento – falou: “Meu filho. Você e a Mariana não precisam fugir. Somos próximos do Mário Dedini e eu posso arranjar para vocês cortarem cana numa das usinas dele...” Foi terrível. Humilhante. Cortar cana por aqui? Viver nosso romance juvenil perto da família, sem aventura, sem qualquer relance de heroísmo, de fuga, de contestação?
Queríamos – jovens e adolescentes – “consertar o mundo”. Transformá-lo. Não sabíamos, porém, como. Nem mesmo o porquê de fazê-lo. No agora, sei ter-se tratado do sonho de liberdade. E de rompimento de tabus e preconceitos que, por tanto tempo, haviam tentado subjugar as vontades. Filmes hollywoodianos afogueavam-nos a imaginação e despertavam-nos outros e novos hábitos e costumes. A rápida e, por fim, trágica passagem de James Dean pela vida e pela cinematografia marcou-nos dramaticamente. Tínhamos que continuar celebrando a memória daquele jovem ídolo. E ele, Marlon Brando, Steve McQueen ficaram imortalizados como verdadeiros símbolos daquela geração.
Cabelos compridos, roupas desleixadas, requebros sensuais como os de Elvis Presley, criar um Woodstock brasileiro, viver com e para a guitarra, cantar e dançar o “rock”, aderir ao ié-ié de Roberto Carlos – isso foi um pouco daquele antes, que precedeu esse agora. Foram nossos bom e belo, o nosso bem. Saudade, pois, como não a sentir? Talvez, porém, seja algo mais próximo à nostalgia, essa certeza da ausência de um tempo, de um lugar, de toda uma história anteriormente vivida.
Tolice, no entanto, estabelecer comparações. Lembranças permanecem vivas por palpitarem ao compasso do coração. São parte de nós mesmos. Por isso, a dor e a tristeza não nos abandonam também. Ora, mas alguém já nos ensinou que “recordar é viver”. Um reviver. E, nesses tempos desafiadores – semelhantes a outros que vivemos – chega a ser revigorante reconhecer que nem toda transformação tem o poder de destruir a essência do ser humano. Então e de repente, ressurgem um doce da infância, o perfume de uma flor ou de alguém, a música que fez parte de um amor juvenil, um objeto esquecido em algum canto da casa.
Enfim, o antes do agora nos acompanha. E o amanhã o trará de volta, na ironia de o agora vir a tornar-se nosso antes. “Chi lo sá?”
** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do SAMPI