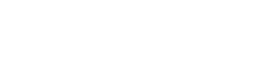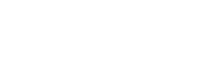Mal nos damos conta disso, mas, vendo e ouvindo crianças indagando dos “por quês” das coisas, lá estão elas começando a filosofar. Querem saber. Lembro-me de, certa vez, na infância, ter provocado, em meus pais, uma divergência que me orientou. Ela, a mãe, advertira-me: “Deixe de ser curioso, menino!” E ele, o pai, retrucou: “É bom que seja curioso. É assim que aprende.”
E, só já adulto e estudando, aprendi ser, a curiosidade, uma das características fundamentais do cotidiano do homem. É o “desejo contínuo e renovado de ver”. Seria possível, então, supor que, ao perder esse desejo, o ser humano esteja perdendo o próprio interesse em viver. Se nada mais lhe interessa, em quê se lhe transformou a vida?
Quando do recente “apagão”, confesso ter sido tomado de irritação. Aos poucos, ao entardecer, senti minha tão cultivada solitude ir-se tornando solidão. E, de repente, senti-me só. Não mais por opção. Mas por algo superior à escolha. Ora, não se tratava de desejar alguém, pessoas, a meu lado. Era como se me desse conta da utopia da liberdade plena ou da independência. Dependente, interdependente – eis em que me reconheci ser. E que todos somos.
Anoitecendo, a escuridão era completa. Plena. Mas eu me intitulo um “veleiro”, acendedor de velas. Não consigo, ainda, entender o porquê de meu fascínio por elas. Carrego, porém, no coração – ou sei lá onde! – lembranças de quando o país dependia do temido “racionamento de energia elétrica”. Havia amargor nas pessoas. Mesmo quando já se acostumavam com a “falta de luz”. Recorria-se aos lampiões de gás, às ainda poucas lanternas. E às velas. Aprendi a ler, a estudar e a fazer meus rabiscos à luz de velas. Meus olhos, já propensos a uma miopia hereditária, arderam à infantil insistência de ler. De querer saber.
Então, o que parecera prejudicial mostrou-se reconfortante. Era estar à penumbra. Como antigamente. O reconforto, porém, carregara-se desse sentimento quase sempre dolorido, o da saudade. Onde estava o piano em que minha irmã se exercitava, mesmo à luz das velas? E meu pai, ao violino? E minha mãe, com suas risadas feitas de lágrimas? Cadê o meu livro sobre as aventuras do Rei Arthur, os cavaleiros da Távola Redonda? E o meu Tarzan? Onde estariam os meus times de futebol de botões, o meu Baltazar – todo negro, reluzente – saído do “manteaux” de algum homem elegante?
Devo ter sorrido para mim mesmo. A aparência da penumbra – e o que me soubera a solidão – não era sombria. Talvez, apenas melancólica. Uma certa tristeza, doce tristeza que convida à reflexão. Quanto e tanto aconteceu ao longo de tantos e quantos anos? Quanto, pela vida, me foi dado ver, ouvir, conhecer, sentir? E quantos e tantos prazeres, alegrias, belezas, perdidos por tolices ditadas pela tão pobre razão? Por que não me foi dada, antes, a mínima sabedoria de ouvir a voz do coração, como agora tento fazer?
E por que continuar jornalista? Para quê? Se o grande sonho, imenso desejo foi, desde a infância, a audácia de escrever – por que não o fazer, novamente, como na adolescência e mocidade? Escrevi em mesa de bar, em guardanapos de papel; escrevi – sim, eu o fiz! – em areia de praia. E aconteceu o que a canção já lamentara: “Eu escrevi, na fria areia, um nome para amar. / O mar levou, tudo acabou, palavras leva o mar...”
À luz de velas, no suave aconchego da penumbra – e povoado pelos meus bons e maus fantasmas – admiti, por fim, o que devo voltar a fazer. “Tempus fugit!”. Recomeçar ou parar.
Na madrugada, a luz “voltou”. Apaguei as pequenas chamas tremeluzentes das velas. E agora?
--------------
Os artigos publicados no Jornal de Piracicaba não refletem, necessariamente, a opinião do veículo. Os textos são de responsabilidade de seus respectivos autores.