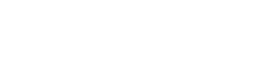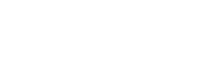A entrevista mais bonita e emocionante que colhi, sem sombra de dúvidas, até hoje, para as minhas crônicas quinzenais, foi esta:
Caía uma tarde de abril quando entrei no quarto para uma visita. Os raios de sol, filtrados pela leve cortina de “voile”, iluminavam seu rosto envelhecido. Conheci Jurandira Marinho Dias na casa de sua filha Jussara Frasson, minha amiga e cirurgiã-dentista. Deitada no leito, não se levantava mais — a labirintite provocava-lhe tonturas. Notei a pele corada, os olhos brilhantes e as mãos quentes ao cumprimentá-la. De unhas esmaltadas e cabelos tingidos de louro, pude vislumbrar a elegante mulher que fora um dia. Vestia uma blusa muito branca, de mangas longas com um lenço verde escuro de cetim no pescoço, que a protegiam do friozinho outonal. Conversou comigo por mais de uma hora, entrecortada por momentos em que fechava os olhos e parecia dormir. Ao abri-los, retomava a narrativa carregada de nostalgia e de amor. Jurandira entrara em processo ativo de morte.
Alguns sinais e sintomas sugerem muito que o paciente esteja em processo ativo de morte: fraqueza grave e progressiva; limitação ao leito; tendência a dormir a maior parte do tempo; indiferença a líquidos e a alimentos; desorientação no tempo, entre outros.
Nascera em Tibagi, no Paraná, em 1937. O pai, comerciante de diamantes, viajava por todo o Brasil a comprar e a vender as pedras preciosas. Desde a infância e durante a vida inteira, Jurandira estivera exposta ao tabagismo passivo. Conviveu com a fumaça nociva do cachimbo da avó e dos cigarros do pai. Em Uberlândia, MG, cidade em que viveria por toda a vida, a estudante do tradicional Colégio Brasil Central, em seu impecável uniforme escolar, conhecera o futuro marido, Dercílio Dias, de posses menos abastadas — era mecânico de automóveis. Aos 17 anos, casara-se e continuaria fumante passiva do marido, consumidor de 80 cigarros por dia. Ele fingia não saber que Jura roubava seus cigarros e fumava-os, escondida. Quando saía às festas com as amigas, comprava um maço de “du Maurier” — compridos, finos e enrolados em papel castanho escuro. Achava-os elegantes.
Quando os filhos entraram na Universidade Federal de Uberlândia — Paulo em Medicina e Jussara em Odontologia —, gostava de acompanhar seus estudos. Folheando um livro de patologia, notou imagens de uma língua doente: uma placa ou mancha branca aderida à mucosa oral. Olhou-se no espelho e viu que a sua tinha aspecto semelhante. Levaram-na ao ambulatório da faculdade e o diagnóstico foi leucoplasia oral — lesão que acomete as mucosas da boca, mais comum na borda lateral da língua, na parte interna das bochechas, no céu da boca e nas gengivas. Não provoca dor nem qualquer outro desconforto e não pode ser removida por meio da escovação dos dentes ou da língua. A leucoplasia oral, mais comum em pacientes tabagistas e etilistas, ocorre devido à constante irritação da mucosa por esses agentes. Requer atenção, já que os dentistas a consideram lesão pré-maligna. Muito resistente e com alto risco de recidiva, requer constantes intervenções e monitoramento.
Jura parara de fumar quando o filho se formara médico, havia mais de 40 anos. Gostava de pintar telas a óleo e de bordar Richelieu. Curou-se de um câncer de mama depois de passar por várias cirurgias. Cuidou, por muitos anos, do marido com doença renal crônica e não mostrava, aos filhos, a lesão na língua. Numa visita a Piracicaba, depois de inúmeras biópsias inconclusivas, em 2015, veio o diagnóstico definitivo — carcinoma espinocelular, um câncer. Submeteu-se a 37 sessões de radioterapia e a 5 de quimioterapia, mas não houve remissão do tumor.
Naquela tarde, encontrava-se especialmente alerta e lúcida. Quando acordou, pela manhã, pediu que lhe pusessem uma roupa bonita, escolheu, com cuidado, o lenço e ralhou com a filha para que também se arrumasse melhor — o filho querido, professor de neuroanatomia na faculdade e neurocirurgião em Uberlândia, chegaria para visitá-la.
Despedi-me sabendo que não mais nos veríamos e aconselhei os filhos a que aproveitassem os últimos dias com a mãe. Depois que li o livro, presente da querida paciente e ex-professora Graciema, “A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver”, da médica escritora Ana Cláudia Quintana Arantes, aprendi que morrer é o nosso maior exercício de entrega. Começamos a vida inspirando — recebemos o ar. Terminamos a vida expirando — o último suspiro. A experiência envolve, ao mesmo tempo, entrega e doação. Você vai, mas deixa, aos outros, sua história.
--------------
Os artigos publicados no Jornal de Piracicaba não refletem, necessariamente, a opinião do veículo. Os textos são de responsabilidade de seus respectivos autores.