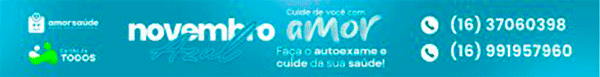Eram feias as paredes internas do prédio onde eu comecei a trabalhar como funcionária da Justiça, cargo conquistado em concurso concorrido. Minha vida era o trabalho que me garantia financeiramente e os estudos à noite que levava muito a sério. Cursava psicologia, mas queria mesmo era ser escritora e mergulhar fundo na alma alheia, sempre misteriosa para mim.
Tinha deixado para trás minha cidade e a família, mas aos poucos fui fazendo amigos na faculdade e no trabalho. Neste último, me chamou atenção desde o início um colega de semblante tristonho. Ele também não era da cidade, tinha sido transferido há pouco, de forma que esse ponto comum acabou nos aproximando. Primeiro foi um café ali mesmo, na repartição. Depois um chopp no barzinho próximo. Ele gostava de literatura e cinema, como eu. Mas às vezes se tornava inabordável e taciturno.
Dele eu nada sabia, a não ser a excentricidade do temperamento. Todavia, quando estava bem, gostava de conversar comigo. E eu com ele. Intuía que havia alguma coisa em seu passado que o havia ferido profundamente. Minha curiosidade sobre os seres humanos era insaciável. Pensava que cada humano com quem me defrontava trazia dentro de si história singular, desenrolando-se em novos capítulos que a estranhos ocultavam conexões. Entretanto, estas existiam, pois ninguém evita as consequências de suas escolhas nem pode elidir as circunstâncias que em algum momento levaram a caminhos jamais escolhidos pela razão.
Meu colega se chamava Miguel e pertencia a uma família de imigrantes russos, como fiquei sabendo. A família havia migrado para o Brasil no pós-guerra. Vânia, o avô, não se interessava por nada que não fosse vodka e acabou perdendo tudo no jogo. Mas era grande leitor e legou ao neto essa vocação para a leitura e muitos livros. Miguel era apaixonado pelos autores russos e principalmente por Dostoiévski que, segundo ele, seria o único escritor deste mundo capaz de adentrar as profundezas da alma e, assim, abrir caminho para o perdão às precariedades humanas. Aliás, ele usava com frequência a palavra ‘precariedade’ e imagens ligadas a subterrâneo.
Aos poucos, pela via das letras, nos tornamos mais próximos, acho que amigos. Um dia lhe falei que uma das frases de Clarice Lispector, “a vida supera qualquer ficção,” encontrava respaldo em Dostoievski, que havia escrito “a arte é maior que a vida.” Ele me perguntou se eu acreditava nisso e respondi que sim. Embora fosse jovem, eu já tinha entrado em contato com realidades que surpreenderiam o mais audaz ficcionista. Ele acenou afirmativamente a cabeça. Hoje penso que aquela conversa foi decisiva para o que se seguiu dias depois.
Estávamos esperando ônibus para voltar a nossas casas, quando ele se convidou para tomar um café na minha. Era pretexto, eu sabia. Fomos. Assim que chegamos passei o café e enquanto o tomávamos ele começou:
- Tenho uma coisa para te contar. É tão difícil.
Eu o encorajei:
- Pode falar. Sinta-se à vontade.
- Olhe, eu ando há cinco anos num sofrimento muito grande... Vivia muito bem com minha mulher. Tínhamos uma filhinha, Elisa. Dois anos.
Ele parou, engasgado com as lembranças. Esperei que se recobrasse.
- Tínhamos uma rotina parecida à de muitos casais. Minha mulher era nutricionista. Saía cedo para o trabalho, deixava Elisa na creche, só a buscava à tarde. Eu saía de casa uns minutos antes para a empresa. Naquele dia ela teria de ir ao médico para consulta de rotina e me pediu para deixar Elisa na escola antes de rumar para meu trabalho.
Ele parou. Eu continuei.
- E você a deixou na escola.
- Achei que sim... Mas... não.
- Como assim?
- Eu andava muito preocupado com questões relacionadas ao trabalho... Acho que racionalizo para não enlouquecer... Só soube que tinha esquecido a menina dentro do carro no meio da tarde, quando minha mulher me ligou perguntando se dera tudo certo. Naquele instante foi como se tudo desabasse ao meu redor. Nem sei como consegui me mover até o estacionamento. De longe avistei um pedaço do vestidinho vermelho encostado na cadeirinha e, nela, minha menininha imóvel. Morta. Seis horas dentro do carro fechado. Morta.
Chorou muito quando acabou de falar. Seu corpo sacudido pelos soluços é algo de que não vou conseguir esquecer tão cedo. Esperei que se acalmasse. Depois falei o que pensava. Que nossa mente nos atraiçoa. Que ele com certeza estava tão absorto em seus pensamentos que não se dera conta da menina no banco de trás. Que não tinha o hábito de levá-la e mudar hábitos traz transtornos à mente. Que ela talvez houvesse dormido e assim, no silêncio, não despertara a sua atenção. Enfim, coisas óbvias que ele já deveria ter ouvido dezenas de vezes. Seriam as mesmas explicações que não haviam tocado o coração de sua mulher. Ela não o perdoava. Ele também não se perdoava.
Pediu transferência logo depois dessa conversa. Nunca mais o vi, até que três anos depois recebi notícias que chegaram com um convite. Miguel ia se casar outra vez. Havia conseguido se recuperar com a ajuda de um psicólogo. A mulher dele também. Ambos tinham vencido o luto, se perdoado e, livres da culpa, estavam juntos de novo, iam fazer uma celebração. Havia um bebê a caminho.
Assim a vida e seus movimentos Maior e mais surpreendente que as ficções.
Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.