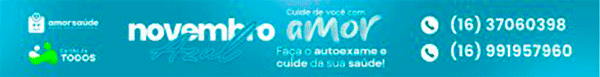“Mãe...” A voz quase pueril fez pausa breve, mas deu conta de ler a frase toda no quadrinho de moldura vermelha fixado na parede branca: “Mãe é o amor maior que a gente tem no mundo”. Ouvindo-a, me lembrei de que era o primeiro verso de canção popular. O segundo me ocorreu logo à memória: “Mãe é o amor mais puro e mais profundo”.
Estávamos sentadas ali há tempo, ambas cansadas de folhear revistas velhas com assuntos que nem interessavam mais. Acho que por isso ela vagou o olhar pelas paredes e se fixou no quadro decorativo. Aguardávamos a chamada da recepcionista que estava atenta ao seu celular.
Como nós, parecia se sentir entediada no fim da tarde calorenta, na sala ainda cheia de pacientes, sem ar condicionado, só ventilador antigo produzindo alguma brisa e ruído contínuo e irritante.
Quando a jovem ao meu lado leu o verso em voz baixa, resolvi começar uma conversa, porque já não aguentava mais o marasmo. Perguntei se sabia que a frase pertencia a uma canção popular. Ela respondeu que não, e então emendei esclarecendo que quando criança eu ouvia um cantor famoso, de voz potente, no rádio que minha mãe ligava cedo em nossa casa. Era a única distração no trabalho doméstico. Ouvindo música e cantando íamos levando nossa vida. Ela pegou a deixa:-“Quem canta seus males espanta.”
Um breve sorriso assomou a seu rosto e naquele momento achei que seria mais nova do que eu havia imaginado inicialmente. Teria a idade de minha filha mais velha? É possível. O vestido limpo mas desbotado, os pés mal cuidados, o cabelo de corte impreciso contribuíam para sua imagem de quem estava instalada na pobreza. Continuei com os versos de que ia me lembrando, “Oh minha santa mãezinha que tantas vezes eu vi chorar”, mas parei porque notei que ela se emocionava. Pedi desculpas, muito sem-graça, e perguntei:
- Você tem mãe?
Sábia, ela respondeu:
- Mãe todo mundo tem. A minha está no céu.
Percebendo meu constrangimento, explicou:
- Devia ter dito que perdi minha mãe há algum tempo.
A conversa engatava. Ela me perguntou sobre a pessoa a quem eu acompanhava e estava, como a recepcionista, desligada do mundo, atenta só à tela do celular. Respondi que era minha irmã caçula, a rapa do tacho. Depois ela quis saber quantas irmãs eu tinha. Eu lhe disse que éramos quatro, todas mulheres.
- Ah, eu queria tanto ter irmãs. Só tive irmãos. Nós todos nascidos na roça. Vida sofrida a da mãe. Muito trabalho, poucos recursos, só preocupação. E aquelas dores do parto. Seus gritos. Mulheres correndo com panos e água quente. Durava horas, aquilo. Um horror.
Comentei que podia imaginar. Filhos nascidos na roça, de parto natural...
- Mas, sabe, o mais difícil que eu achava era depois que meus irmãos nasciam. A mãe ficava tristonha, quieta, deixava de comer, não queria amamentar o menino. E aos poucos ia se exaltando, falava coisas sem sentido, xingava. Ela, tão séria, não admitia que falassem palavrão dentro de casa, e nesses resguardos complicados gritava coisas indecentes. Meu pai se envergonhava, ficava vermelho, levava as mãos à cabeça, sofria muito com isso.
- E como vocês enfrentavam essa situação?
A gente morava no fim do mundo. Cidade mais perto, dois dias de viagem em carroça. Quando a mãe ficava violenta, querendo até esganar o recém-nascido, meu pai trancava ela no quarto e colocava no lugar da porta uma grade grande que trancava a cadeado. Uma tia solteirona, irmã dela, que morava com a gente, só entrava ali pra dar banho, pentear cabelo, dar comida – às vezes na boca, quando a mãe não cerrava os dentes ou cuspia o alimento.
- E você via tudo isso?
- Via e chorava. Essa minha tia era pessoa boa, me acalmava, pedindo paciência porque a mãe ia melhorar como tinha acontecido em outras vezes.
- E ela melhorava mesmo?
- Melhorava, ficava boa como antes, amorosa com os filhos, trabalhadeira, religiosa. Era uma questão de dois meses, por aí. A tia tinha de cuidar dela e do bebê.
- E com todos os filhos foi assim?
- Foi assim. Com todos. Por fim a gente se acostumou. Porque a gente se acostuma com tudo, né? Aquela grade ficava encostada na parede do curral, depois que o tempestade passava. E quando a mãe perguntava a razão dela estar ali, ninguém tinha coragem de dizer. A gente arranjava desculpas.
A moça queria continuar falando. Eu a incentivei com o olhar, levada pela curiosidade daquele caso inusitado. Escutei com atenção o desfecho:
- Quando nasceu meu último irmão, apareceu lá na roça um médico que fazia um trabalho para o governo. Ele esteve em nossa casa e na vizinhança com muitas perguntas. Foi quando eu fiquei sabendo, pelo que o pai contou ao doutor, que com minha avó materna tinha acontecido a mesma coisa. Diante disso, o pai foi avisado de que a mãe não podia ter mais filhos. E que ainda bem que tinha nascido só eu de mulher. No meio das explicações falou uma palavra difícil - hereditariedade. Pelo que entendi, uma coisa que a mãe tinha herdado da avó e poderia passar às filhas que viesse a ter. Não era certeza, mas poderia acontecer.
Naquele momento percebi a angústia que pairava nos olhos da jovem. Eu não queria ser direta, achei que seria indelicado ou até cruel lhe perguntar qualquer coisa sobre gestação. Mas ela se adiantou e pareceu adivinhar meu pensamento, enquanto acarinhava a própria barriga.
- É o meu primeiro, sabe? Estou muito preocupada. Nunca quis me casar para não ter filho. Mas quem disse que é preciso casar para engravidar, não é? Sorrimos ambas, com malícia.
Nesse instante a secretária chamou por ela - “Maria Magdalena Silva, pode entrar.”
Ela se levantou a custo, a barriga de uns 7 meses sungou seu vestido na frente. Pegou a bolsa, colocou a tiracolo e me estendeu a mão com um sorriso tímido e um “muito prazer”. Caminhou na direção da porta onde a médica a esperava. Nem deu tempo de eu lhe desejar uma boa hora e que Nossa Senhora do Bom Parto a protegesse.
Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.