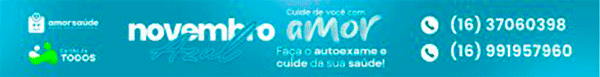Há bem pouco tempo descobri a razão de chamarem ao pau-brasil, acácia, peroba, jequitibá, jacarandá, andiroba, canela, ipê e algumas outras espécies de “madeiras de lei”. O status legal se deveu inicialmente à lei publicada pela Coroa Portuguesa logo depois de ter a Corte desembarcado aqui ao fugir do exército de Napoleão Bonaparte. Punia-se com prisão e multas quem cortasse essas árvores por serem suas madeiras valorizadas pela força, densidade e durabilidade. Tais qualidades, explicariam depois os biólogos, deviam-se à produção, no cerne dos troncos e galhos, de substâncias químicas que protegiam a superfície de ataques de fungos e insetos. Tornavam-se assim invulneráveis. Apesar da lei, e contradição em termos, milhares de árvores nobres foram derrubadas desde o início do século XIX para construção de prédios públicos. Entre eles, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, fundado por Dom João VI em 1818 com o intuito de difundir educação, cultura e ciência.
Destruído por um incêndio no dia 2 de setembro de 2018, o Museu figurou como um dos maiores das Américas em história natural e antropologia: abrigava mais de 20 milhões de itens. Formado ao longo de dois séculos por meio de coletas, escavações, permutas, aquisições e doações, o acervo desapareceu em poucas horas. Foi consumido pelas labaredas cujas imagens, transmitidas ao vivo, impactaram o espírito dos brasileiros conscientes do tamanho da perda.
Mesmo destruído não fechou, continuou com sua atividade de pesquisa e ensino, ainda que a interação com o público através das exposições tenha sido prejudicada. Os trabalhos de restauro começaram de imediato e hoje mostram a recuperação da fachada. Salas de exposição, novos galpões de pesquisa e sistemas anti-incêndio estão em processo de reconstrução, com término previsto para 2026. Entretanto, resta o maior desafio: recompor a valiosa coleção que virou cinzas. Como recuperar essa memória?
Nesses seis anos que se sucederam, histórias incríveis vêm sendo vividas por profissionais renomados e pessoas anônimas. Em documentário recente, de duas horas, a Globo News contou uma delas, a de Davi Lopes, bombeiro, músico, luthier e amigo das árvores. Tendo passado a infância no bairro onde se ergue o Museu, este jovem carioca participou de uma das brigadas de combate ao fogo e voltou ao local nove meses depois. De início abalado, aos poucos se imbuiu de um propósito: recuperar das cinzas pedaços de madeiras nobres que tinham feito parte da construção do prédio e de seu mobiliário e não haviam sido totalmente destruídos. Dentro dos tições, ainda havia vida.
Graças ao amplo conhecimento das espécies vegetais, Davi trabalhou com persistência comovente na recuperação dos tições mandados pela municipalidade para um depósito a fim de serem descartados. Ele os recolheu. Levou-os para sua oficina. Limpou, cortou, lixou cada pedaço. Libertou das cinzas a matéria que havia resistido no interior, lembrando escultor que retira da pedra os excessos para chegar ao âmago e resgatar o que a imaginação havia formatado. Identificou sem demora a origem das madeiras, todas pertencentes à flora do Brasil. Cada pedaço grande ou pequeno com seu perfume, cor, textura, flexibilidade e capacidade de produzir sons peculiares quando tocado.
À primeira parte do processo Davi nomeou “tempo de dor”: foi o primeiro contato com o que parecia irreparável. À segunda, “tempo de renascer”, quando convocou seu dom para a lutheria, função que exercia há anos nas horas de folga. Com madeira restaurada, um sonho de Fênix, muito engenho e arte, e contando com apoio de artistas como Gilberto Gil e Paulinho da Viola, Davi passou a dar forma a violões e violinos na pequena oficina anexa à sua casa. Assim as câmeras o filmaram, manuseando ferramentas diversas que lhe permitem dar forma à madeira. Enquanto trabalha, filosofa: “Havia a árvore. Depois a árvore foi abatida e serviu à construção e ao mobiliário do Museu. Então veio o incêndio. Agora o cerne dos troncos vai se transformando em violões. Houve para a árvore tempo de árvore; depois, de construção; agora é de violão. Tudo é transformação.” Também é filósofo, o Davi. E poeta.
Assistir ao documentário mexeu comigo, que também amo as árvores e admiro pessoas que inspiram outras, ainda que no maior dos breus, e por isso se tornam imprescindíveis. Impressionou-me, demais, o sonho que move esse ser humano, sua esperança na vida, a confiança no próprio dom, sua empatia em relação ao reino vegetal: “Penso que quando está pegando fogo, uma árvore sente alguma coisa parecida com dor”.
Não sei como estará reagindo hoje Davi Lopes ao tomar conhecimento dos incêndios que há semanas queimam campos e florestas em nosso país de norte a sul castigado. Como tantos, deve estar sentindo tristeza e indignação ao ver nos noticiários labaredas colossais reduzindo a cinzas árvores nobres ou plebeias, calcinando espécies que talvez desapareçam de vez dos biomas, impactando diretamente a vida de pássaros, insetos e mamíferos, jogando fuligem para o alto, envenenando o ar, contaminando águas, adoecendo homens. E assim, diante da tragédia anunciada, para a qual o poder público continua se mostrando anêmico em vontade de resolver, ouso imaginar que no distante bairro carioca onde o homem extraordinário continua restaurando tições para transformá-los em instrumentos musicais, ele alguma vez repense a frase com a qual encerrou seu lindo depoimento no filme: “Não existe ponto final.”
Parece que existe.
Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.