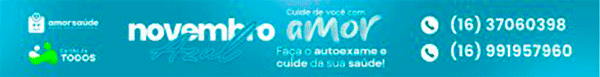“Se Hitler invadisse o inferno, eu faria uma referência favorável ao diabo na Câmara dos Comuns”
Winston Churchill, primeiro-ministro britânico
O mundo andava muito esquisito naqueles anos 30 do século passado. Profundamente impactados pelas consequências econômicas da quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929, e ainda muito afetados pelas perdas – materiais e de vidas – da primeira grande guerra, líderes de países de todas as partes preferiram ignorar o que acontecia na Alemanha.
Presidentes e primeiros-ministros, reis e rainhas, sultões, emires e quase todo mundo com alguma relevância permaneceram indiferentes durante mais de dez anos, assistindo passivamente a ascensão de um baixinho bigodudo rumo à consolidação do poder absoluto no comando da Alemanha.
Austríaco de nascimento, pintor frustrado e militar de baixa patente (nunca passou de cabo), Hitler conseguiu seduzir o povo alemão com seu discurso extremista de direita recheado pela exaltação dos valores “superiores” da raça germânica, do nacionalismo exacerbado, e da necessidade de o mundo reparar o que, sustentava, havia sido tomado “injustamente” da nação pelo Tratado de Versalhes ao final da primeira guerra mundial.
Nunca é demais recordar que Hitler não se fez ditador por um golpe de Estado. Ele corrompeu e dilacerou as instituições alemãs por dentro. Foi indicado chanceler em janeiro de 1933 pelo então presidente Paul von Hindenburg, com quem dividiria o poder. Menos de seis meses depois, conseguiu aniquilar quaisquer vozes divergentes ao aprovar uma lei que tornava o Partido Nazista o único da Alemanha - todos os outros foram banidos, inclusive antigos aliados.
Ainda no mesmo ano, manobrou e conseguiu aprovar o “Ato de Autorização”, pelo qual o parlamento transferia ao poder Executivo as funções legislativas. Podia, portanto, não apenas propor leis, mas também implementá-las sem depender de ninguém. A cereja do bolo viria com a morte de Hindenburg, em 1934. Sem nenhuma sombra no Executivo e sem Legislativo que o pudesse contrapor, Hitler funde os cargos de presidente e chanceler num único, o de füher (líder). No mesmo pacote, determina que as Forças Armadas jurem fidelidade a ele e, logo a seguir, retira a Alemanha da Liga das Nações (a antecessora da ONU).
Hitler acelera a reconstrução e aparelhamento das forças armadas alemãs (que tinham sido praticamente extintas ao final da Primeira Guerra). Implementa leis antissemitas (segregando os judeus) e de “melhoria” da raça alemã (deficientes físicos e doentes mentais deveriam ser submetidos a uma “morte misericordiosa”). Determina também a construção de campos de concentração, para onde manda seus adversários.
A partir daí, o caminho para a desgraça que custaria milhões de vidas e a destruição quase completa de nações inteiras por toda a Europa estava irremediavelmente aberto.
Em 1938, impulsionado pelo apoio popular que gritava nas ruas o slogan “Deutschland über alles”, retirado do hino alemão, (“A Alemanha acima de tudo”, e qualquer semelhança com o Brasil de hoje não é mera coincidência), Hitler anexa, sem qualquer resistência, a Áustria. No ano seguinte invade a Polônia. Em 1940, ataca e conquista, rapidamente, Dinamarca, Noruega, Holanda, Luxemburgo e Bélgica. Dias depois, invadiria e tomaria a França, numa campanha assombrosa e avassaladora.
É surpreendente constatar que, durante todo este tempo, Estados Unidos, União Soviética, Brasil e inúmeras outras nações preferiram se manter neutras, como se Hitler fosse apenas um excêntrico inconsequente que em algum momento interromperia seus desvarios. Que suas ideias, contidas no livro Mein Kempf (Minha Luta), escrito em 1925, muito antes de chegar ao poder, não passavam de bravatas, ainda que ele tenha deixado muitíssimo claro os absurdos que pensava, os ódios que nutria e as insanidades que pretendia implementar.
Mesmo na Grã-Bretanha, que declarou Guerra quando a Alemanha invadiu a Polônia, a absoluta maioria dos líderes políticos defendia um acordo de paz com Hitler, um pacto de não-agressão. Foram absolutamente displicentes e negligentes durante toda esta década que antecedeu o início da Segunda Guerra.
Os primeiros-ministros britânicos Ramsay MacDonald (1929-1935), Steve Baldwin (1935-1937) e Nelville Chamberlain (1937-1940) apostaram numa abordagem quase infantil diante do caminho de terror que Hitler pavimentava. Deixaram sucatear as forças armadas do Império Britânico, ignoraram os perigos do regime totalitário que Hitler forjava e insistiram em inúteis diálogos multilaterais com os alemães. O último deles, o “Acordo de Munique”, assinado por Chamberlain e Hitler em 1938, pelo qual o líder nazista incorporava a região dos sudetos (parte da Tchecoslováquia) em troca da promessa de não invadir mais nenhum território. Seu "compromisso" durou menos de um ano.
Durante todo este tempo, uma única voz no Ocidente se ergueu, de forma permanente, contra os planos de Hitler e o risco que a ascensão do nazismo representava para a humanidade. Coube a Winston Churchill, jornalista, escritor e político britânico, este solitário papel.
Desde o início da década de 30 até ser eleito primeiro-ministro, em maio de 1940, Churchill publicou centenas de artigos em jornais, fez incontáveis pronunciamentos em emissoras de rádio e proferiu inúmeros discursos no parlamento inglês alertando para o risco do terror nazista. Sua mensagem era clara e direta: Hitler precisava ser parado. O armamento da Alemanha interrompido. A expansão territorial freada. Poucos quiseram ouvi-lo. Menos gente ainda lhe dava razão.
Quanto finalmente entenderam que os alertas de Churchill estavam corretos e ele finalmente fora escolhido para liderar a Inglaterra, Hitler dominava toda a Europa Ocidental e quase 400 mil soldados britânicos se esgueiravam nas praias de Dunquerque, na França, acuados por divisões panzer de blindados alemães, à espera de um resgate improvável e sem ter como reagir. Graças à impetuosidade de Churchill, uma operação maluca com uso de barcos de lazer foi posta em prática e mais de 330 mil soldados foram salvos.
A Grã-Bretanha entrava então para valer na guerra e, sob liderança de Churchill, combateria incessantemente Hitler pelos cinco anos seguintes. Mas a ajuda ainda demoraria a chegar. Foi apenas em 1941, quando Pearl Harbour foi bombardeada pelo Japão e Belarus e Ucrânia invadidas por 3 milhões de soldados alemães, que Estados Unidos e União Soviética se uniram aos ingleses no combate ao terror. A vitória viria apenas em 1945.
No prefácio da obra que lhe garantiu o Prêmio Nobel de Literatura, Memórias da Segunda Guerra Mundial, um colosso de mais de mil páginas, Churchill relembra uma conversa que teve com o presidente americano Franklin Roosevelt durante os anos do conflito. Roosevelt queria saber a opinião de Churchill sobre qual o melhor nome usar para se referir ao conflito. “A guerra desnecessária”, afirmou, de pronto, o líder britânico.
Impossível discordar. O mundo teve incontáveis oportunidades de conter Hitler. Poderia, por exemplo, quando as forças das demais nações europeias eram inúmeras vezes superiores às de Hitler, ter reforçado e imposto os termos do Tratado de Versalhes e impedido o armamento em grande escala do exército alemão. Deveria ter restringido seus acessos a financiamentos quando ele começou a perseguir e aniquilar minorias. No limite, quando o insano invadiu a Polônia, teria que ter imediatamente isolado as fronteiras germânicas, protegido a população civil polonesa e bloqueado qualquer tentativa de avanço de Herr Hitler. Qualquer uma das ações teria sido muito mais efetiva, produtiva e eficiente do que as inúteis “conversas de paz” com um louco que nada queria além da destruição, pura e simples, de qualquer um que pensasse diferente e que defendia o extermínio, puro e simples, de quem não fosse branco, hétero e cristão. O custo da indiferença foi pago com 50 milhões de vidas.
Seria bom que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados; Rodrigo Pacheco, do Senado; Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal; os chefes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; os líderes de partidos políticos que apoiam o governo Bolsonaro; os principais representantes de todas as crenças e qualquer um que tenha neste instante uma posição relevante mergulhassem nas páginas das memórias de Churchill. As lições que dali se extraem são permanentes – e perenes.
Qualquer tentativa de diálogo institucional com Jair Messias Bolsonaro fracassará. Não por falta de habilidade, de disposição ou de empenho dos interlocutores, mas pelo simples, singelo e triste fato de que Bolsonaro não tem qualquer interesse em construir a pacificação do país. Ele quer a guerra, busca a guerra e forja a guerra.
Uma guerra interna, cruel, segregacionista, que pretende, ao final, a consolidação do poder absoluto nas mãos do frustrado e incompetente capitão do Exército, sob um sonhado beneplácito das Forças Armadas a quem exige devoção – não à nação, não aos poderes constituídos, mas apenas e tão somente a si mesmo.
Pouco importam as concessões que se façam ou os sapos que se engulam na tentativa de pacificar a relação com Bolsonaro. Nada vai satisfazê-lo simplesmente porque não é isso que ele deseja. Depois de uma breve calmaria eventual, virá um novo conflito. E outro. E mais um. Sua sanha permanente por criar pretextos para uma ruptura a qual ele mesmo procura dar causa, ao mesmo tempo em que jura que a culpa é dos outros, jamais será interrompida.
Se triunfar, via tropas nas ruas ou a corrosão de todas as instituições, muitos daquele que o adulam e aplaudem serão suas primeiras vítimas. Serão humilhados, banidos – ou mortos - sob a simplista lógica ditatorial que transforma toda e qualquer pessoa que pense diferente num “inimigo”, num “traidor” da Pátria, num gay herege e pedófilo que é “contra” Deus. É uma lógica absurda mas, nem por isso, distante do pensamento vigente em parcela significativa dos apoiadores mais ferrenhos do atual mandatário da nação.
Bolsonaro precisa ser imediatamente parado. Basta de concessões, chega de diálogos inúteis. A cada vez que o presidente da Câmara e do Senado não enxergam, ou pelo menos dizem não enxergar, razões para um processo de impeachment, apertam o nó que paira sobre seus pescoços e rasgam mais uma página da Constituição que juraram cumprir. Ainda mais sério, colocam em risco o futuro de gerações.
São tantos os crimes que o presidente da República cometeu que apenas listá-los exigiria um outro artigo. Da sua inépcia assassina no enfrentamento da pandemia aos ataques sistemáticos a opositores; do boicote às vacinas e questionamento à sua eficiência até o estímulo ao descumprimento de medidas sanitárias. Do financiamento dos grupelhos que atacam as instituições ao jugo das Forças Armadas a sua pessoa, sobram exemplos.
Essa é uma guerra desnecessária. A hora exige dos líderes democráticos que cumpram o seu papel. Bolsonaro deve ser deposto pelas regras do regime democrático, ser julgado e preso pelos crimes que cometeu, enfrentar o Tribunal Penal Internacional pelo genocídio que, no mínimo, estimulou. Se isso não for feito, os omissos de hoje podem se preparar para as perseguições que começarão amanhã. Sem democracia para garantir seus direitos, sem Judiciário independente a quem recorrer, sem imprensa que denuncie as mazelas, sem coisa alguma que o mínimo processo civilizatório considera fundamental.
O mundo agiu no limite contra Hitler há 75 anos. Não resta muito tempo para o Brasil fazer o mesmo com Bolsonaro. Se não houver uma ação imediata, os eventos que se sucederão serão dramáticos. A conflagração com que muitos “patriotas” sonham não é partida de videogame. Não é asséptica. Não é indolor. Uma vez ditatorial, o poder não admite questionamento, divergência ou contraposição.
Que entre os muitos MacDonalds, Baldwins e Chamberlain que se multiplicam pelo Brasil surja algum Churchill que, com razão inatacável e muita coragem, aglutine em torno de si homens e mulheres lúcidos. O país está em jogo. E o resultado, ao contrário do que acreditam os inocentes, pode ser de um tipo tão amargo que o tempo para superação só poderá ser medido em décadas. A hora de evitar a tragédia é agora. É preciso agir rápido. Bem rápido, antes que seja tarde demais.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.