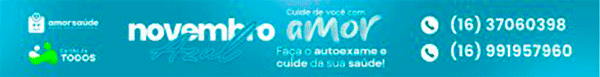“Amanhã é novo dia.” Extraída do antológico filme “...E o vento levou”, a frase tornou-se a preferida de minha mãe, que a aplicava a quaisquer situações, fossem rotineiras, esporádicas, acachapantes, alegres ou tristes. Com a afirmação, acho, ela tentava nos mostrar a impermanência de tudo. Dos corriqueiros fatos, mais a perenidade da alegria, da felicidade, como também dos maus momentos e dos perrengues que a vida oferece. Com o novo dia que ela antevia e afirmava que viria, tudo sofreria mudanças para o bem ou para o mal; que agradariam ou não; mas certamente trariam soluções. Prolongaria as alegrias do momento ou eliminaria no futuro, dores, de qualquer natureza. Passado já algum tempo que não convivo mais com ela, e pensando bem, era essa a visão de alguém muito otimista que via sempre soluções para todos os problemas – particulares ou coletivos e que, garantia, poderíamos contar com descobertas de novos caminhos que surgiriam e, certamente, trariam bonança, após tempestades.
Outra lição aprendida no colo de minha mãe era sobre cicatrizes. Cicatrizes em geral. Aquelas, de tecido fibroso, resultantes do processo de cicatrização, que deixam marcas após cirurgias ou após cortes – de caco de vidro, de navalha, de gilete ou do bisturi. Aquelas, que substituem os tecidos normais lesados ou seccionados e deixam marcas horríveis no corpo do agredido: aquelas deixadas na gente, por quaisquer ferimentos, enfim. E, por fim, ela nos mostrava as mais doídas, tristes e contundentes que eram aquelas impressões duradouras deixadas na nossa alma, causadas por ofensas, ingratidão ou desgraça. Cicatrizes são marcas que, exibidas explicitamente no exterior ou no interior das pessoas, são sinais. São imperfeições, no sentido de que estigmatizam o portador. Podem ser sutis, quase imperceptíveis e indeléveis mas, como tênue rachadura no cristal, por mais delicado seja o procedimento de restauro, nunca desaparecerão.
Em contrapartida, nada nos ensina mais que a dor. Longe de fazer apologia do sofrimento, reconheço que meu crescimento como pessoa se deve a crises como a social dos anos de repressão política. Humilhada, apontada, vítima de avaliações nada airosas ou delicadas, quando perdia vigor e impulso, sentia a força de meus pais higienizando-me as feridas e a me garantir futuro compatível com meus sonhos de cidadã e brasileira. Nessa época chegou-me às mãos a poesia Le Vase Brisé, de Sully Prudhomme, Nobel de Literatura de 1901, que completaria poeticamente minha concepção de dor, feridas da alma, impossibilidade de regeneração e, claro, cicatrizes. O vaso é metáfora para o coração que um dia se racha e deixa escorrer, por sutil e quase invisível ferimento, toda a água que continha. A rachadura aumenta pouco a pouco, lenta e inexoravelmente, até que compromete a saúde da flor, que fenece. Toca meu coração, o final da poesia, que mantenho na língua original e alerta sobre o perigo de destruição do vaso: “N´y touchez pas, il est brisé.”.
Relações de amizade, de amor, de vizinhança e até de parentesco são relações delicadas que exigem rega adequada, adubação constante e muito, muito carinho, além de cuidados com o excesso de exposição à luz ou sombra. Pequena rachadura no vaso, minúscula fissura, imperceptível trincadura deixa sair a invisível seiva mantenedora da flor que morre, deixando apenas cicatrizes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.