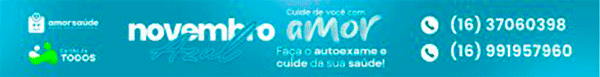Sempre que acontecem episódios agudos de violência em que as forças policiais de diferentes estados brasileiros não conseguem enfrentar de forma adequada a crise instalada, surgem imediatamente apelos para que se recorram às forças armadas. Salvo raríssimas exceções, oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica advertem que não se pode confundir o papel de polícia com o das tropas.
Há várias razões para manter cada qual no seu quadrado. A principal delas é que unidades policiais e forças armadas têm abordagens completamente diferentes para enfrentar ameaças. A polícia prioriza a vida dos civis, evita o confronto a não ser que seja inevitável, sabe que prender é preferível a matar, e está sujeita à Justiça comum no caso de abusos ou excessos. Atira, obviamente, mas apenas quando não há outra opção. Mata, se for o último caso.
Para as forças armadas, cuja função é proteger o país, ainda que com o sacrifício da própria vida, a conversa é outra. Por definição, em qualquer exército, quem não é amigo é um inimigo que, como tal, deve ser neutralizado – preferencialmente, morto.
Entender essa diferença é crucial para compreender o modo de agir do presidente Jair Bolsonaro, um homem que, antes de ser deputado, foi capitão do Exército. Sua forja foi nas forças armadas. Sua lógica, mesmo depois de anos no Congresso Nacional, segue obedecendo a doutrina que aprendeu nos quartéis. Quem não obedece ao comando, por mais que a ordem seja estapafúrdia, não presta. Quem não é amigo, é inimigo – e, como tal, deve ser aniquilado. Quando não pelas balas, por palavras e ações. Na arena da política, onde o diálogo é tudo, não poderia haver conduta pior.
No seu até agora curto mandato de dez meses, Bolsonaro acumula não apenas os “inimigos” que já teria por conta de suas posições extremistas e radicais. Insaciável, arregimentou entre os próprios aliados uma gigantesca coleção de novos adversários, gente que com ele percorreu o Brasil em campanha, pessoas que nomeou para ministérios, figuras que se dispuseram a muitos enfrentamentos em nome do seu governo. Na lógica do capitão, não há espaço para debate nem para divergência. Discordou, não presta. Recusou-se a ser subserviente, não vale nada. Desagradou os filhos, têm que morrer. De um jeito ou de outro.
Na sangrenta batalha deflagrada nesta última semana, Bolsonaro pessoalmente agiu para tentar tirar o delegado Waldir da liderança do seu partido na Câmara. Queria substituí-lo pelo filho, o ex-futuro embaixador em Washington, Eduardo Bolsonaro. Fracassou e teve que ouvir o delegado chamá-lo de “vagabundo”, “traidor”, e de ameaçar “implodir” o governo com revelações sobre troca de cargos por apoio. Não satisfeito, tirou a deputada Joyce Hasselmann da liderança do governo no Congresso sem nem mesmo um telefonema de cortesia. Depois, teve que engolir em seco diante da ameaça dela de relevar o que aconteceu “nos verões passados”.
Bolsonaro, o capitão, não deixa Bolsonaro, o presidente, governar. Trocou o diálogo pela declaração de guerra. Contra tudo, contra todos, contra seus aliados. A batalha já começou. Uma coisa, porém, é certa. Qualquer que seja o desfecho, o Brasil será a grande vítima e suas as feridas precisarão de muito tempo para serem suturadas. Isso, se puderem ser.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.