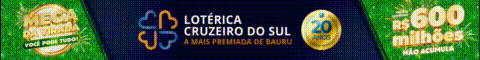Sinto falta de mim. Em tempos de andanças frenéticas, perdi minhas velas e meus fósforos, e meus manuscritos e minha sanidade juvenil.
Quarenta vozes ecoam dentro das minhas meninges e se reverberam até me rasgarem o estômago - nenhuma delas é a minha e não consigo debruçar o queixo sobre o peito. Os soldados dos tempos modernos estão atrás de mim.
Exército robusto e bem treinado, não precisam gritar seu general para que eu saiba a mando de quem eles vêm.
Mas corro.
Corro sem destino, corro enquanto meus pés vacilam e o coração pulsa nos ouvidos.
Por que o coração não fica na cabeça? Ou nos ouvidos?
Gostaria de ter um coração pendurado na úvula como um pingente, de forma que meu coração desse o ar da graça a cada risada que eu sofresse; o som o faria balançar e por isso bateria mais forte.
Queria ter um coração na entrada da garganta, para que pudesse enrolá-lo na ponta da língua ao falar e cuspi-lo na mesa quando minha lógica atentasse contra ele.
Em vez disso, tenho o coração nas mãos, um lugar muito perigoso de se ter um coração. Quando escrevo, não raciocino uma palavra sequer. Seguro a caneta e ele pulsa. Coração letrado produz palavras quando pulsa.
É preciso ser muito cauteloso quando se tem o coração nas mãos. Quando posiciono os dedos nas casas do violão e corro os vizinhos pelas cordas, arremesso o coração contra o corpo curvilíneo do instrumento e então sofro de arritmia.
Os cozinheiros, por exemplo, pulsam pelo estômago. Os arquitetos, no entanto, são um mistério para mim.
Pintam o mundo de preto e branco, regam meus jardins com concreto e tentam tingir o céu de amarelo manteiga. Então adentro seus templos e piso em mausoléus sem identificação.
Quem foi aqui velado?
Talvez eu devesse interrogá-los no gerúndio. Ainda sem resposta. E eu, que tenho átrios nas falanges, toco os balcões de mármore, branco e frio, dedilho arranjos nos pilares cinzas e seguro meus ouvidos enquanto toco a testa no piso, nem um pulso sequer.
Então me deito, como quando no ventre, e lamento a morte da Alma.