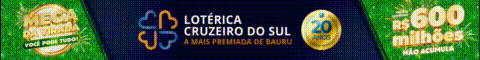São Paulo - As emoções oscilam entre esperança e desespero. Pode durar dias, meses, às vezes, anos. Uma busca que impede a aceitação da morte e o continuar da própria vida. Sobre os familiares das vítimas de desaparecidos em tragédias pesa, além da dor da perda, a privação da despedida. Um ritual que permite a quem fica vivenciar o luto e aceitar a realidade.
“A sensação ainda é de que eles vão entrar por aquela porta um dia desses”, diz Theresa Amayo, oito anos após perder a filha, o neto e o genro no tsunami que atingiu a costa asiática em dezembro de 2005, deixando 300 mil mortos. A diplomata Lys Amayo, o filho, Gianluca, de 10 anos, e o marido, o italiano Antonio D’Avola, passavam férias na Tailândia. Com eles estava a filha Taís, única sobrevivente - ela voltou sozinha para casa.
Depois de enterrar a mãe e o irmão, identificados 13 dias após a tragédia, Taís voltou para a Tailândia como voluntária. Queria encontrar o pai. A busca de Taís terminou quatro meses mais tarde, quando ela reconheceu em fotos dos destroços o relógio e a aliança do pai - um exame DNA atestou a morte dele e a família pôde realizar um enterro na Itália.
A aposentada Laura Petit da Silva conhece o sentimento. Ela só enterrou um de seus três irmãos desaparecidos na ditadura. Ainda assim, 24 anos depois, quando foram encontrados os restos mortais da caçula, Maria Lúcia, morta em 1972, aos 22, na Guerrilha do Araguaia. Até hoje, ela é a única identificada entre os 60 desaparecidos.
Os irmãos de Laura, Jaime e Lúcio, nunca foram encontrados. “Até a anistia, em 1979, minha mãe acreditou que eles voltariam. Depois, passou a colocar uma rosa ao lado de suas fotos no dia do aniversário deles, porque não havia túmulo para onde levar as flores”, diz Laura, de 62 anos, mais da metade deles à espera de rever os irmãos. Num exemplo de superação, Theresa Amayo fala aos familiares das vítimas do vôo 447, da Air France: “Não se pode esmorecer, o tempo vai ajudar. A gente sente uma falta terrível, mas segue vivendo das coisas boas do passado.”