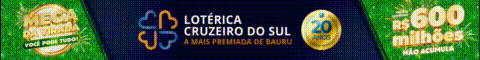Um dos principais argumentos utilizados pelos idealizadores da Virada Cultural Paulista, que tem influência da “Nuit Blanche”, que ocorre em Paris, é a utilização da cidade como instrumento de diálogo, inclusão e participação do organismo social. A modernidade estampou o símbolo da arte sacralizada pelo grito da horda toda assustada. É o fim e o princípio do caos. O caos das cidades mais inchadas, dos espaços carcomidos. Soa paradoxal e de extremo mau gosto, portanto, pensar que um evento como a Virada Cultural deva funcionar como plataforma conciliatória e reparadora de todos os males do mundo.
A função da arte é um pouco, nesse sentido, relacionar os signos de Estados em decomposição. A sociedade contemporânea fetichiza elementos como amor, paz, família, moldada pela lógica espetacularizada da indústria cultural. Assim, artistas como Tom Zé, Ná Ozzetti e, até mesmo, Wander Wildner, causam desconforto na massa de receptores acéticos e descomprometidos. Há tempos, nossa classe média se comporta como gado em eventos festivos: micaretas, raves, baladas etc. Nesse contexto, assusta pensar que os jornalistas Bruna Dias e Ricardo Santana não entenderam os componentes do conflito que se estabelecera no SESC e no Teatro Municipal, no último fim-de-semana.
A conversa empreendida por Tom Zé junto à platéia pedia o mínimo de maturação intelectual. Havia, evidentemente, um achaque de liberalidade juvenil, que se chocava com as balizas sugeridas pelo artista “velho”. A tentativa de convencimento de Tom Zé partia da metalinguagem. O público pode ter respondido com aplausos, mas, talvez, não tenha visualizado a narrativa que se construía. Os dois jornalistas, certamente, não visualizaram. Nota-se, após a leitura da matéria “Dois artistas abandonam a Virada”, uma necessidade hormonal em justificar a estupidez. O assovio, ou “simples” fiu-fiu não foi a “gota d’água” do “chilique” do compositor baiano. Foi, sim, o ingrediente essencial do choque de proposituras.
O descompasso, portanto, não é de amplitude meramente empírica: a platéia (querendo se divertir) x o “chiliquento” (em seus arroubos de pretensão desmedida). Nessa perspectiva, o incômodo demonstrado na execução de “Brigitte Bardot” já preconizava o que estaria por vir. A canção, que suscita um exercício de contemplação nas “camadas absortas do silêncio”, foi atravessada pelos ruídos do público “animado e festivo”. Não perceberam, desse modo, a explosão vaticinada nos versos: “Brigitte Bardot agora está ficando triste e sozinha. Será que algum rapaz de vinte anos vai telefonar na hora exata em que ela estiver com vontade de se suicidar?”. Após o velho e ordeiro aplauso retumbante, o artista arremata: “Que pena que eu fui burro para não compreender que não podia jogar essa canção para uma platéia tão grande.”. Pouca gente captou a ironia, e o espetáculo dos rostos felizes foi se enveredando pela lógica comezinha do abadá-music. Como tragédia anunciada, na canção posterior o “simples” fiu-fiu, refeito à exaustão por bocas sem um grão de sensibilidade, detonou o enredo do embate universitário entre USP e FGV. Depois de abandonar o palco, Tom Zé volta para uma espécie de “anti-bis”, como dissesse, aos modos do velho Januário de Oliveira: “Taí o que vocês queriam”. E encerra o show com o forró-metafísico “Xique-xique”, distribuindo alegria, alegria e felicidade geral para seu “grande” público.
Ora, é de bom tom pensar sobre a falta de compromisso: de quem, cara pálida? Do público passivo e míope? Da organização que atrasa as apresentações? Não. Para Bruna Dias e Ricardo Santana, o descompromisso é dos anti-profissionais artistas excêntricos. Mas como as angulações da “reportagem-crítica” são mínimas, eles ilustram, na disposição da página do jornal, os “shows que deram certo”. E aí, leia-se: a festa do Vitória Régia, em shows como Ultraje a Rigor, Diogo Nogueira e Demônios da Garoa. Foram ótimas apresentações. Estávamos lá. Mas quando o conflito não se manifesta (como no abandono de Tom Zé e na ausência de Ná Ozetti), os jornalistas não enxergam, no desconsolo do fio social, as pulsões da platéia. Surpreende o fato de que os detalhes das apresentações não são “contados no jornal”. O que interessa aos jornalistas é vender o mito da lógica do chilique, e legitimar, de maneira higiênica, o desinteresse e o esvaziamento da juventude, alcunhado-os limpos, justos e “livres” (para desempenhar o “simples” fiu-fiu da mendicância).
A ensaísta argentina Beatriz Sarlo, em ensaio presente no livro “Cenas da vida pós-moderna”, aponta os comportamentos oriundos da nossa vida urbana mais “progressista”: o desgosto pelo rústico, o medo do combate, a vitimização pela estética do consumo, a cultura “jovem”. A psicanalista Maria Rita Kehl vem trabalhando no entendimento do fenômeno da “adultecência” como um sintoma das práticas do dia-a-dia. Dois pensamentos que dialogam com o desconforto da nossa modernidade tardia. Um evento como a Virada Cultural, necessariamente, vai atiçar matrizes de conflito. Isso é inevitável. Bastam olhos para ver e ouvidos “roucos” para ouvir.
A lógica moralista da ordem é a antítese do cenário da modernidade abrupta e fugidia, como diria Walter Benjamin. Portanto, ao evidenciar, pelo chilique corporativista do esteticismo raso o pretenso chilique de outrem, os jornalistas apenas tentam legitimar o vazio da análise, a violência da interpretação e a obesidade vaidosa e niilista de um jornalismo supostamente crítico. Sem chiliques. No doce sono dos justos.
Cláudio Coração - professor de Comunicação, jornalista, doutorando em Ciências da Comunicação pela ECA-USP e Lauro Martins Neto - aluno de Jornalismo da Unesp e Letras Português/Espanhol da USC