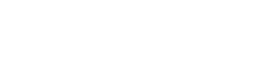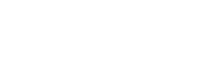Longe, muito longe deste escriba qualquer tentativa de sequer tergiversar sobre a noção de Tempo. Coisas há que melhor seria, nelas, não pensar. Aliás, a sabedoria popular já concluíra: “De tanto pensar, morreu burro”. Vai daí – para não morrer ainda mais burro – resisto à tentação de pensar em mistérios. Pois, por falar em Tempo, os ancestrais já nos advertiram: “tempus fugit “. Que ele passa rápido. Logo, sugerem: “carpe diem”, aproveite enquanto pode.
Seja lá como for, no entanto, vivemos espacial e temporalmente. E que privilégio ter vivido e ainda viver num espaço como Piracicaba! E, aqui, estar e sentir-se em seu próprio mundo! Diz-se que “recordar é viver”. Nem tanto. Pois coisas há melhor seria não tivessem acontecido. Que, portanto, não se revivam. Mas que se resguardem em nosso aprendizado de viver. Logo, mais sábio admitir que recordações assemelham a um processo de conservação, buscando, segundo alguns pensadores, haver um “eterno presente”. Recordar seria trazer o que se foi para o agora.
Como, porém, esquecer o que nos marcou? É o indelével, fixado na pele da alma. Nunca mais foi possível esquecer o terror da bomba atômica quando do genocídio em Hiroshima e Nagazaki. Os adultos falavam de “fim do mundo”, da destruição de tudo. E o menino, aos seus cinco anos, não podia suportar uma guerra acabasse com o universo onde ele vivia: o quarteirão, o quintal, a horta de sua mãe. E, quando um outro dia amanheceu, tanta foi a alegria por tudo continuar igual que ele começou a acreditar em milagre. Especialmente, no milagre da vida como dom, como bênção.
Viver, pois, era como estar acima e além de brigas, de guerras, de loucuras humanas. A própria carência, a pobreza fazia parte das coisas. E não tinham importância diante de tanto amor na família, a bondade e os cuidados dos pais, a alegria ao lado dos irmãos. Pois era possível enfrentar as dificuldades, superá-las. E como esquecer de quando, numa noite em que brincava com os amiguinhos, roubaram-lhe os sapatos? Eram os únicos que tinha. E, descalço, não poderia ir à escola. Era o lugar que o fascinava, aquele aprender a ler como o seu pai fazia. Doeu-lhe até às lágrimas. Mas tudo foi resolvido: emprestou-se um pé de sapato de um primo e os dois garotos foram para a escola com um dos pés descalço.
E sentir-se um matador ainda pequenino, como suportar o horror? Aconteceu. Brincávamos num dos quintais. E Zezo, um dos amiguinhos, era o mais esperto de todos. Era, como se dizia antes, o mais moleque. Zezo foi nosso professor em infrações, em aventuras. Espiar, pela fechadura, menina tomando banho, uma delas. E conseguiu fazer a arma mais poderosa da criançada: um estilingue. Foi a sensação.
Zezo lançava pedras em busca de atingir os mais diversos alvos. Parecia um daqueles heróis das histórias em quadrinhos. Obviamente, quis imitá-lo. Ele me deu o estilingue, apanhei uma pedrinha e atirei-a a esmo. Mas foi a tragédia: acertei no peito de um passarinho. Enlouqueci com o delito. Corri para minha mãe, certo de ser um criminoso de guerra. Voltamos ao quintal e ela transformou minha tragédia num cerimonial inesquecível. Delicadamente, tomou o passarinho morto nas mãos, beijou-o e me convidou a fazer-lhe um funeral. Cavamos um pequeno buraco no jardim, colocamos o coitadinho numa caixa não me lembro do que era.
Minha mãe abençoou-o, ajudei-a a sepultá-lo. Então, ela colheu dois gravetos, fez uma cruz e colocou-a sobre o tumulozinho. “Não fique triste. Agora, ele vai para o céu...” – falou.
Cecílio Elias Netto é jornalista e escritor.