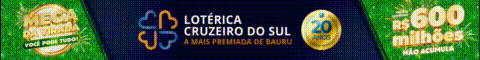Hoje, reunimo-nos aqui sob a forma visível de uma cerimônia, mas na realidade o que estamos presenciando é algo mais profundo e mais luminoso, algo que, verdadeiramente, nos convoca: celebrar uma vida que fez da docência não uma ocupação, mas um destino; não uma função, mas um gesto permanente de abertura ao outro. Celebramos uma professora cuja força nunca precisou se afirmar nos espaços de deliberação, porque ela habitou — com plenitude — o lugar onde a universidade realmente nasce: a sala de aula. Ali, ela transformou o ato de ensinar em criação cotidiana, fazendo daquele espaço não só um local de transmissão de saberes, mas um terreno fértil de formação humana, crítica e sensível.
Há docentes que passam pelas instituições e deixam marcas mais ou menos intensas, mas há docentes que as atravessam. Há trajetórias que habitam a rotina e há trajetórias que transformam a rotina em rito. Há presenças que cumprem a função e há presenças que, por sua força ética e inteligência pedagógica, moldam o espírito da casa. É neste segundo grupo — o dos que elevam os outros, dos que semeiam futuros e convertem o cotidiano universitário em horizonte de sentido — que se inscreve a professora que hoje homenageamos: Professora Dra. Salete da Silva Alberti (a Saletinha).
Sua trajetória profissional teve início no SESI de Bauru, ensinando crianças. Talvez ali ela tenha descoberto que educar é, antes de tudo, saber escutar. Percebeu que cada estudante, por menor que fosse, carregava dentro de si um mundo inteiro. Ali ela compreendeu que o papel do professor é justamente criar um espaço onde esse mundo interno possa emergir, ganhar voz e lugar. Depois seguiu para a Universidade do Sagrado Coração, instituição onde se formou e também lecionou. Mais tarde, chegou à antiga Universidade de Bauru — posteriormente incorporada pela UNESP — e ali construiu sua trajetória no Departamento de Ciências Humanas na Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design. No doutorado em Araraquara, em um programa que reunia Sociologia e Antropologia, consolidou um olhar que jamais se desviou do essencial: o encontro pedagógico, atento aos gestos da vida cotidiana e às culturas que dão sentido aos espaços que habitamos e construímos.
Desde seus primeiros passos no magistério, ela já compreendia a essência da educação. Compreendia que ensinar não é apenas transmitir conteúdos, mas interpretar mundos; não é só ordenar saberes, mas acolher pessoas; não é apenas cumprir um programa, mas escutar aquilo que ainda não encontrou linguagem; não é, tampouco, apenas explicar o que se sabe, mas despertar o que o outro pode vir a ser. Essa tríplice convicção — a de que educar exige escuta, presença e compromisso — guiou sua trajetória inicial, consolidou sua identidade docente e preparou o solo sobre o qual toda a sua obra se ergueria.
Pertencente a uma geração para a qual a atividade didática constituía o eixo estruturante da vida universitária — a ponto de se definir, com orgulho, como “dadora de aulas” —, ela construiu uma trajetória marcada por um compromisso formador raro. Sua marca não foi a autoridade hierárquica, mas a moral, intelectual e afetiva — aquela que se revela quando um ex-estudante a reencontra e diz: “Professora, a senhora mudou a minha vida”. Ali estava sua força motriz: a docência em seu estado mais puro e transformador.
Sua prática articulou ensino e pensamento crítico, convertendo a sala de aula em espaço de diálogo, celebração do conhecimento e alegria. Movida por permanente curiosidade intelectual, reconhecia em cada estudante uma singularidade a ser despertada. Orientava sua prática pela distinção rigorosa entre ideologia e cultura — fundamentada em Paulo Freire — entendendo que a ideologia naturaliza relações de poder, enquanto a cultura é campo vivo de práticas simbólicas e possibilidades de resistência. Assim, unindo arcabouço teórico sólido, sensibilidade pedagógica e ética do ensino, afirmava o papel emancipatório da universidade e a potência transformadora do conhecimento.
Nessa convergência entre teoria e sensibilidade, consolidou o que viria a ser o eixo inquebrantável de seu trabalho: o encontro pedagógico, que reconhece a dignidade do outro, que faz da sala de aula um território de respeito, que transforma o conhecimento em instrumento de emancipação. Porque, para ela, ensinar era muito mais que um ato técnico, era um gesto ético; era mais que instrução, era Formação, com F maiúsculo. Ensinar não era apenas análise, mas compromisso com a vida cotidiana, com as culturas invisíveis, com os mundos que se revelam quando alguém decide escutar de verdade.
Ela escolheu — e reafirmou diariamente — que seu lugar na instituição seria aquele onde tudo começa: o espaço entre o professor e o estudante, onde as perguntas ganham corpo e o pensamento se converte em ação. Porque, antes de qualquer regulamento, uma instituição se sustenta pela qualidade dos laços que cria, pela consistência intelectual e humana de quem ensina, e pela capacidade de formar gerações que renovam a vida comum.
Seu sobrenome, Alberti, desenha um arco inesperado sobre sua trajetória, acrescentando a essa história uma dimensão simbólica rara. Quase uma ironia discreta do destino, já que, por alguns anos, ela colaborou diretamente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesp-Bauru. Carregar o sobrenome de um dos grandes arquitetos do Renascimento, Leon Battista Alberti, significava mais do que uma coincidência genealógica — era quase como uma convocação simbólica a um modo particular de ver o mundo. Se, no Renascimento, Leon Battista Alberti formulou o célebre “L’occhio alato (olho alado)”, o olhar que estrutura, enquadra e dá forma à experiência, séculos depois, formada entre a antropologia e a sociologia, a professora e doutora Salete Alberti encarnava outro tipo de visão: não a que constrói a perspectiva geométrica, mas a que desvela a perspectiva humana.
Enquanto o Alberti renascentista afirmava que ver é medir, ordenar e representar, a professora Salete Alberti atualizava esse legado ao mostrar que ver é também compreender, escutar e reconhecer o outro em suas formas de habitar. Assim, os dois olhares, distantes no tempo, aproximam-se numa mesma ética: a certeza de que toda arquitetura — e toda docência — começa na capacidade de perceber o mundo. Se o primeiro abriu uma janela sobre a paisagem, a segunda abriu janelas para as pessoas, permitindo que cada aluno se tornasse legível em sua singularidade.
Nesse diálogo silencioso entre dois Albertis, revela-se uma linhagem intelectual não declarada: a continuidade de um olhar que não domina, mas ilumina; que não reduz, mas amplia; que não aprisiona, mas liberta. Que não capturava — escutava. Era esse olhar que ela exercia, ano após ano, no trabalho vivo da docência que, como o de Alberti, não apenas traduz ideias: cria mundos de sentido.
É nesse ponto que se inscreve, com rara pertinência, o mote latino quid tum, gravado no próprio olho alado e interpretado por Manfredo Tafuri como a indagação decisiva: “Ebbene, e allora?” — “E então?”, “E agora?”, “O que vem depois?”. Era justamente essa pergunta que ecoava na prática docente de Salete. Era o convite ao pensamento crítico, a recusa do óbvio, o impulso para avançar. Era uma pequena pergunta que abre grandes horizontes; a pergunta que, em sua voz, não pressionava, mas libertava. E, assim, cada aula tornava-se um chamamento à lucidez.
Como se essa vocação tão profundamente humana não bastasse, outra marca se destacava no seu modo de ser e de viver: sua relação com o tempo. Enquanto muitos professores percebem o calendário como fardo, ela o percebia como promessa. Enquanto, muitos sentem o peso da passagem dos anos, para ela, o tempo parecia repousar com leveza. Se para muitos docentes, os anos acumulam cansaço, para ela acumulavam renascimentos. Há professores e professoras que não atravessam o tempo: são o próprio tempo que renasce. Enquanto os anos corriam lá fora, dentro da sala de aula, o calendário se dissolvia no instante vivo de cada encontro.
Durante décadas, Salete Alberti caminhou por esse tempo suspenso, movida por uma alegria que não era euforia, mas celebração: ensinar era estar no mundo com os outros, comungar pensamento, acender perguntas no escuro e perceber, no brilho dos olhos dos estudantes, que ela chamava de gatinho/gatinha, o tremor sutil de algo que desperta. Era o território de Kairós: um tempo que não se cronometra, mas se abre; um tempo em que a vida não envelhece, apenas se desdobra. Sua sala de aula convertia-se nesse tempo oportuno, pleno, vivido com intensidade e sentido.
Paradoxalmente, foi somente com a aposentadoria que o “tempo dos mortais” voltou a contar — esse tempo externo à docência, que não renasce a cada semestre e que, finalmente, se impôs como marco concreto, após anos vividos na temporalidade própria do ensino, onde o constante começar eclipsava a finitude.
É por isso que a aposentadoria — tão aguardada por tantos e tão temida por outros e também por ela — não a diminuiu. Quando enfim se aposentou, apesar da dor do momento, aquele ato não foi uma retirada: foi apenas o momento em que o tempo implacável de Chronos começou a ameaçá-la. Não apagou luz alguma, não interrompeu obra alguma. Porque o labor docente tem essa grandeza: sobrevive na memória dos que aprenderam.
Depois de tantos anos vivendo na eternidade da sala de aula, a cronologia reencontrou seu corpo, mas não a conteve. Porque há quem exista no tempo, há quem o atravesse e há quem, como ela, permaneça nos outros, na vida daqueles que a encontravam pelas ruas e lugares por onde passava. E uma vida, como a dela, não se encerra quando se retira do exercício cotidiano. Ao contrário, expande-se. O que antes habitava o calendário passa a habitar a lembrança.
Se a aposentadoria encerrou o ciclo renovador da docência, para uma estudiosa da língua e da cultura gregas como a homenageada, cabe agora invocarmos simbolicamente Mnemosine, deusa da memória, para que sua prática não se dissipe, mas permaneça no legado instaurado nos outros — nos gestos que ensinou, nos modos de ver que despertou, nos mundos que ajudou a descortinar. As instituições vivem disso: da permanência dos gestos fundadores e da continuidade das experiências que as constituem.
Que Mnemosine preserve o fulgor dessa trajetória e conceda à sua docência a única imortalidade que importa: aquela que persiste nos afetos, nas ideias, nos projetos e nas obras realizadas por seus alunos, colegas e amigos. Que sua docência siga como um farol — sereno, firme, inesquecível — a orientar aqueles que foram tocados por sua presença. Que sua história permaneça entre as que não se apagam, não como memória distante, mas como inspiração viva.
Por tudo isso, por todas essas camadas, por todos esses gestos, reunimo-nos aqui hoje não só para agradecer, mas para proclamar. Porque há formas de demonstrar gratidão que precisam ser expressas em voz alta. Há legados que, para existirem plenamente, precisam ser reconhecidos pela comunidade que deles se beneficiou. E há vidas que — como a que aqui celebramos — ultrapassam a simplicidade da biografia para ingressar na esfera mais ampla da memória institucional.
Que sua atuação — alada como o olho de Alberti e profunda como o tempo de Kairós — permaneça onde a verdadeira imortalidade habita: na memória daqueles que como eu foram transformados por ela.
escolha sua cidade
Bauru


escolha outra cidade