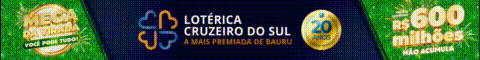Há uma ironia em ser um advogado que trabalha com direito digital e não usa redes sociais. "Logo você?", perguntam, como se o médico estivesse proibido de adoecer ou o bombeiro impedido de temer o fogo. Talvez seja precisamente por conhecer as engrenagens que prefiro admirar o relógio de longe.
Cresci mexendo em MS-DOS, digitando "ASDFG, HJKLÇ" em cursos de digitação e navegando pelos primeiros mensageiros instantâneos. ICQ, mIRC, MSN Messenger. A gente se conectava para conversar, não para performar. Era o tempo dos scraps, dos bate-papos do UOL, da Terra. A primeira rede social que nos capturou foi o Orkut — inaugurando aquela época em que, voluntariamente, abrimos as cortinas de nossas vidas para desconhecidos.
Comecei a estudar Direito Digital em 2007, no segundo ano da faculdade, quando isso era visto como excentricidade. Paralelamente, vieram o Facebook, o Twitter, o Instagram. Entrei em todos. Postava, curtia, opinava, debatia. Era um bom "usuário".
Curioso esse termo: usuário. No vocabulário brasileiro, ele remete basicamente a dois contextos: o das tecnologias digitais e o das drogas. Em ambos, você é consumido enquanto consome. E não por acaso, os mesmos gigantes do Vale do Silício que desenham plataformas para maximizar vício proíbem seus próprios filhos de ter smartphones e perfis em redes sociais. Como o dono da boca que não deixa os familiares experimentarem seu produto.
Uma aula, cerca de uma década atrás, marcou-me profundamente. Ao perguntar quantos alunos usavam redes sociais, todas as mãos se levantaram, menos uma. Questionei o motivo. "Por que eu teria?", respondeu secamente o rapaz. A turma riu. Eu também. Na época, ele parecia um ET — hoje, parece um visionário.
Em 2015, defendi minha dissertação sobre "A inclusão digital como direito fundamental não expresso", que anos depois se tornaria um direito expressamente reconhecido. Argumentei que a verdadeira inclusão não era simplesmente ter acesso a dispositivos, mas compreender o que nos cercava. Educação digital antes do acesso.
Enquanto isso, eu mesmo alimentava perfis e compartilhava conteúdo. Alertava empresas sobre riscos que, silenciosamente, eu mesmo corria. Vivia uma contradição evidente, alimentada por leituras como Jaron Lanier, Shoshana Zuboff e Luciano Floridi com seu conceito de "onlife" — essa impossibilidade moderna de separar o online do offline.
A pandemia foi o estopim. Tudo era "LIVE". A demanda por palestras virtuais era diária. Até o dia em que, no meio de uma briga entre plateia e organização durante uma transmissão, me perguntei: "O que estou fazendo aqui?".
Então, "do nada", há quase três anos, fiz o impensável: dei logout de tudo. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Não foi uma decisão após grandes reflexões — foi visceral. Vi que aquilo me fazia mal, e ponto. Foram embora as crises de ansiedade — e os remédios que as acompanhavam.
Não foi fácil. Nos primeiros dias, meus dedos buscavam automaticamente os ícones já não existentes. Sentia aquela coceira fantasma, como a de um membro amputado. Não é todo fumante que joga o cigarro e nunca mais tem vontade; não é todo alcoólatra que nunca mais tem recaída. Mas assim foi comigo. Parei.
Recentemente, reativei brevemente o LinkedIn para divulgar uma palestra. Logo me deparei com aquele festival de autopromoção: pessoas transformando tarefas corriqueiras em "conquistas revolucionárias", um jogo de egos disfarçado de networking onde todos aplaudem para serem aplaudidos de volta. Em dois minutos, saí novamente. E com gosto.
Três coisas me inspiraram a escrever este texto: uma matéria sobre uma mulher que ficou um ano fora das redes e "morreu socialmente"; a série "Adolescência" da Netflix, que retrata como pais acreditam que o filho está seguro apenas por estar em casa — sem imaginar os perigos que atravessam paredes através das telas; e a constatação de que logo completarei três anos de desintoxicação digital.
Não desapareci — apenas escolhi em qual mapa quero existir. Tenho site do escritório onde sou sócio, e-mail institucional, telefone. Ironicamente, mantenho alguns perfis anônimos que me auxiliam em investigações cibernéticas. Observo o comportamento digital sem ser consumido por ele.
O que fiz não serve para todos. Tenho clientes e amigos que dependem das redes sociais para prosperarem. A reflexão que proponho é para quem, como eu, não dependia profissionalmente e ainda assim se consumia. Para quem gasta horas espiando stories, rolando feeds infinitos, sentindo-se obrigado a ter opinião sobre tudo — isso não precisa mais.
Escrevo isso não para que você delete tudo. Mas para que pense. Observe se ainda está no controle. Ou se está sendo rolado para baixo sem perceber. Porque entre tantos feeds, talvez o que esteja sendo alimentado... seja a sua ausência.
Se isso te incomodar, talvez esteja na hora de apertar Ctrl Alt Del e reiniciar seu sistema.