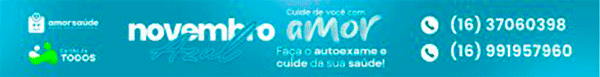por Sérgio Marques
Até em que ponto chega a maldade de um ser humano? A pergunta é comum na vida das pessoas, mas quando um repórter acostumado ao “mundo cão” se vê diante da tentativa de encontrar essa resposta é sinal de que alguma tragédia humana ultrapassou o limite do aceitável.
A vida de repórter tem uma aura especial capaz de incutir no imaginário das pessoas uma ideia de prazer e poder. Talvez por ele ter acesso rotineiro a lugares badalados ou importantes, sejam festas ou locais de crimes. É fácil perceber que onde há muita gente, há também um repórter.
O profissional especializado em polícia é sempre quem os envolvidos escutam ou para quem respondem perguntas, mesmo no calor de uma tragédia. E o dia a dia pode ser macabro. No meu caso, em pouco tempo como repórter de polícia do Comércio, tive acesso a realidades marcadas por aspectos deploráveis. Por exemplo: acidentes que destroçaram corpos. Chegar antes da polícia no local é certeza de se deparar com cenas muito fortes. Afogamentos não têm o impacto violento dos acidentes, mas após dias na água, cadáveres ficam transfigurados. O cheiro é insuportável e impregna na roupa de quem chega perto. Até agentes funerários lamentam quando lidam com esse tipo de situação.
Mas em que pese todo o horror dessas situações, elas normalmente são fruto de fatalidades. Os homicídios, não. Eles nos põem em contato próximo com a perversidade humana. Como explicar que um ser humano, um igual a mim, a você, possa desferir 22 facadas em uma jovem após a festa da noite de Natal? Como justificar o abandono desse corpo em um matagal na periferia de Franca? Crueldade extrema. Há alguns anos, abandonei a Ceia de Natal com a família para cobrir uma atrocidade assim.
Lembro que, na ocasião, foram 12 horas ininterruptas de cobertura. Uma noite pesada, triste. Mas acostumei-me com essa realidade. Repórteres contam histórias, não participam delas. Por isso, o repórter procura não se envolver emocionalmente. Senão, seria insuportável. No meu caso, em mais de 16 anos de profissão, somente Laerte Patrocínio Orpinelli conseguiu mudar isso. Bonachão, com cara de paizão, ele perambulou por diversas cidades do interior paulista. E matou várias crianças. É um serial killer. Em Franca, assassinou uma garotinha de 8 anos na Vila Santa Terezinha.
Esse crime atingiu-me em cheio. Deparei-me com ele no final de novembro de 1999. Na ocasião, minha primeira filha havia nascido e já estava com um ano e nove meses. Tive dificuldades em aceitá-la, pois as necessidades de uma criança alteram a vida de um casal.
Na época do crime, eu e minha mulher (mais ela que eu) fazíamos os preparativos para a festa de seu segundo aniversário. A manhã da segunda-feira, dia 22, refez minhas certezas. Ao deixar o parque Vicente Leporace para ir trabalhar no Centro de Franca, tomei conhecimento que o desaparecimento de uma menina de 8 anos teria chegado ao fim. Na Companhia da PM, colhi o endereço de um encontro de cadáver. Uma aposentada, vizinha de Jéssica Alves Martins, havia encontrado seu corpo em meio a uns pés de mamona em uma área de campinhos de terra, no Jardim Redentor, a quatro quarteirões da casa da vítima. A criança havia desaparecido no final da tarde do dia anterior e a polícia e familiares a procuraram, sem sucesso, por toda a noite e madrugada. Ao saber que ela fora encontrada, acionei um fotógrafo e rumei para o local.
Cheguei antes da polícia. Nunca havia me sentido tão incomodado. Pude ver o corpo seminu, gélido, jogado no meio do mato. Não consegui impedir que meus pensamentos se voltassem para minha filha. “Como uma mãe pode suportar uma dor assim?”, pensei, ao lembrar que alguém sofreria muito com a cena que eu presenciava. Ao dar-me por mim, o local já estava cheio de gente. Vizinhos, policiais, amigos e familiares foram ver se era verdade o que diziam: “Jéssica havia sido achada morta”. Não consegui fazer meu trabalho. Deixei o lugar com lágrimas nos olhos e, em vez de ir para a redação, refugiei-me em casa. Fui ver minha filha. Encontrei-a dormindo e tive de responder aos prantos as perguntas de minha mulher. Demorou uma hora para me controlar. Decidi ir trabalhar e, durante o resto do dia, estive envolvido com a morte daquela garotinha. Criança desaparecida, sexo, assassinato. Os elementos davam a certeza de que era uma grande história do ponto de vista de uma reportagem. Mas eu, por dentro, estava destroçado como
nunca ficara. Só deixei a redação após as 23 horas depois de descobrir o que todos queriam saber: a morte fora por sufocação e havia ocorrido violência sexual.
No dia seguinte, a consternação foi total na cidade com o furo que demos ao publicar a causa mortis. A polícia demorou, mas encontrou o assassino. Laerte Orpinelli, conhecido como “Monstro de Rio Claro”, cometera a atrocidade. Seus métodos eram sempre os mesmos. Ele andava de bicicleta pela periferia de uma cidade e abordava crianças com idade entre 3 e 11 anos. Para convencê-las a lhe seguir, oferecia balas e doces. Depois as raptava, abusava sexualmente e as matava, na maioria das vezes, por asfixia. Foi condenado por estupro e assassinato de 10 crianças em Rio Claro, Franca, Monte Alto e Pirassununga. Suas penas acumularam 100 anos. Em depoimento, ele confirmou que usava os dedos para molestar as crianças que ainda eram espancadas e estranguladas. Reginaldo Carlota, repórter de Itu que investigou os passos de Laerte Orpinelli e escreveu o livro O matador de crianças, registrou uma frase sórdida atribuída a ele: “Eu prefiro as meninas, sempre uso as mãos para matá-las. Estrangulo e depois enterro. Matar crianças pra mim é igual matar passarinho... já matei mais de cem”. Orpinelli morreu na penitenciária em janeiro de 2013.
Quanto a mim, aquela matéria de 1999 nunca rendeu prêmios, homenagens. Apenas me fez enxergar o quanto um ser pequenino era importante e merecia minha atenção. Escrever aquela matéria foi a situação mais difícil que vivi até hoje como repórter. Em casa, desde então, estabeleci um novo ritual. Sempre, ao chegar do serviço, passo no quarto de minha filha com a intenção de conferir se ela está bem. Até hoje - ela completou 15 anos -, ao vê-la dormindo, suspiro e agradeço a Deus por sua presença. Em várias ocasiões, neste instante, lembrei-me dos olhinhos vivos de uma menina “levada” por um maníaco que passou pela cidade. A ela, minhas preces. À família, meus sentimentos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.