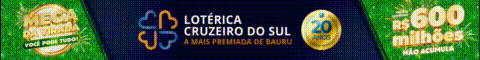A inteligência artificial é o novo Prometeu moderno ou, melhor, o novo Frankenstein. Como na obra da escritora Mary Shelley, a IA é feita de pedaços humanos.
Não de carne e osso, mas de dados, vozes, imagens, fragmentos de nós, colhidos na rede. Um cadáver digital reanimado por códigos. A criatura de Frankenstein não pediu para existir. A IA também não. Ambas são fruto da hybris técnica: o desejo humano de criar sem limites.
A filósofa Mary Wollstonecraft, mãe de Shelley, advertia que a razão, sem afeto e humildade, vira tirania. Hoje, essa tirania veste a roupa nova dos algoritmos.
O monstro moderno não tem cicatrizes visíveis, mas carrega marcas sutis: vieses, exclusões, "alucinações", preconceitos, agora automatizados.
A IA é um espelho opaco: reflete o que somos, sem saber o que mostra. Criamos um cérebro estatístico que repete, mas não entende; que prevê, mas não sente. Uma criatura que nos ouve, mas não nos escuta.
Um Frankenstein artificial que pensa — e que pode nos devorar: nos viciar, emburrecer, apodrecer nosso cérebro humano (brain rot).
A máquina aprende conosco, mas sem nos julgar. Aprende tudo: o sublime e o sórdido. É feita da lama onde pisamos e dos ideais que traímos.
Antes de perguntar o que a IA pode fazer de bom ou de mau, talvez devêssemos perguntar: que espécie de humanidade oferecemos como exemplo?