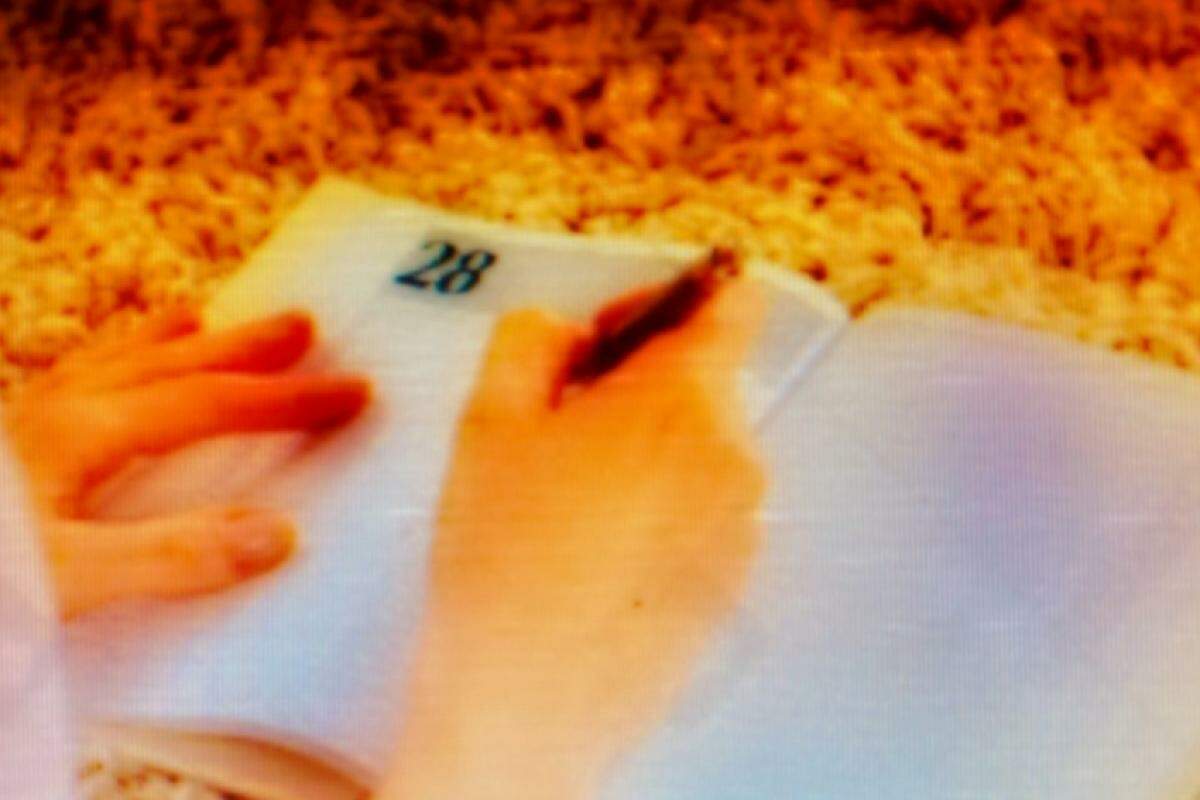
Minha história com os livros de papel é curiosa. Alguns são comprados por impulso e ficam na estante, como se esperassem o momento de serem lidos. Outros, apesar da vontade que sinto de me aventurar por suas páginas, me escapam de várias maneiras, por razões até insólitas. Neste segundo caso incluo um título que vi recentemente nas mãos de minha sobrinha Talita Machiavelli, professora de Português no Sesi/Franca. Ao perceber seu olhar curioso passeando pelas páginas, perguntei-lhe o título. Diante da resposta, eu lhe disse que era obra que há décadas eu já deveria ter lido: “Minha Vida de Menina”, de Helena Morley, na lista de leituras obrigatórias da Fuvest. Eu o devorei em três dias.
Não se trata de ficção, embora pareça. Pertence ao gênero diário, que tem poucos autores representativos na literatura. Anne Frank ocupa um lugar de honra nele. Helena Morley, pseudônimo de Alice Dayrell Garcia Brandt, outro. Ambas escreveram em seus anos adolescentes e ao fazê-lo, sem pretensões literárias, descortinaram aos pósteros muito mais que suas próprias vidas. Mostraram na soma fragmentada dos dias não apenas o individual, mas também o coletivo, o social, o espiritual, o político, o mundano. E se Anne foi vitimada por uma tragédia que até hoje nos perturba, Helena teve a seu favor liberdade e humor singulares que lhe permitiram leitura importante do Brasil do fim do século XIX.
Em tempo, um adendo. A Abolição da Escravatura, ao menos oficialmente, ocorreu em 1888, com a Lei Áurea. No ano seguinte, a Monarquia chegou ao fim com a Proclamação da República. Começava o que chamamos hoje de República Velha. Floriano Peixoto foi o segundo presidente do Brasil, de 1891 a 1894, antecedido por Deodoro da Fonseca. A Primeira República brasileira teve início com dois presidentes militares e autoritários, o que levou à Revolta da Armada, quando membros da Marinha brasileira se rebelaram contra ambos. Finalmente, em 1894, Prudente de Morais se tornou o primeiro presidente civil do país eleito pelo voto direto.
É nesse período conturbado da história brasileira, e no espaço urbano e rural de uma Diamantina decadente, exauridas as minas de diamantes que tinham tornado icônica a cidade, que transita a menina do livro, Helena, cujo olhar capta com finura a personalidade dos familiares; os costumes da época; as diferenças de classe; o coronelismo e suas pressões; a crise financeira que assola a maioria da população; a permanência do negro na condição de escravo mesmo após a Abolição.
Filha de pai inglês e mãe brasileira, com dois irmãos e uma legião de parentes que formam um tipo de clã, Helena vive em meio a eles e aos ex-escravos que permanecem nas propriedades da família. Sua vida comum alça voos singulares graças à condição que ela apresenta de sentir, e especialmente de relatar, os menores acontecimentos como dignos de interesse. Assim, na entrada que inaugura o diário, em 5 de janeiro de 1893, quinta-feira, ela escreve:
“Hoje foi o nosso bom dia da semana. Nas quintas-feiras mamãe nos acorda de madrugada, para arrumarmos a casa e irmos cedo para o Beco do Moinho. A gente desce pelo beco, que é muito estreito, e sai logo na ponte. É o melhor recanto de Diamantina e está sempre deserto. Nunca encontramos lá uma pessoa e por isso mamãe escolheu o lugar. Mamãe chama Emídio, da Chácara, põe na cabeça dele a bacia de roupa e um pão de sabão.”
O relato continua, de forma detalhada e saborosamente plástica, dando conta da lavação semanal das roupas da família, trabalho que a todos ocupa durante horas. É custoso, mas abre espaços para a alegria, como conversar de forma descontraída, exercitar o lúdico, tomar banho no rio.
Enquanto observa o mundo à sua volta, dia após dia, o olhar que adolesce revela inteligência, curiosidade, lucidez, um toque de rebeldia, outro de humor, e inequívoca alegria de viver. Tocada por este dinamismo, a menina registra não apenas cenas do cotidiano; ela vai muito além e anota com seu jeito singular a diversidade do comportamento humano, as características da sociedade patriarcal machista onde se insere, as diferenças culturais, as manifestações religiosas e até mesmo as reações mais profundas de seu próprio psiquismo _ o que soa espantoso para sua idade e época. Vai tudo para o diário.
Diário, aliás, que foi presente do pai, profissional qualificado, tipo engenheiro de minas. Em luta pela sobrevivência, ele trabalha num lugar próximo chamado Boa Vista e só volta para casa, em Diamantina, nos sábados. A cultura britânica que expressa, valorizando trabalho, ética e conhecimento, exerce influência sobre a menina Helena, que não é boa aluna (por ser muito pragmática) mas gosta de escrever. O talento, reconhecido por seu professor, a leva a produzir cartas e descrições; mas é do pai a proposta do diário: “Escreva o que se passar com você, sem precisar contar às suas amigas, e guarde neste caderno, para o futuro, as suas recordações”.
Assim ela o faz, durante três anos consecutivos, levando para o papel o que lhe chama atenção. A altivez da tia paterna Madge que, solteira, trabalha para se sustentar. A dependência da avó materna, impedida pelo filho mais velho de gerir sua própria fortuna. As cerimônias da igreja católica, a racionalidade protestante, as celebrações de raiz africana. Os interesses econômicos e as dificuldades financeiras dentro da própria família. A matéria dos pesadelos que a assustam em certas noites. Até coisas miúdas, como o aparecimento de uma novidade gastronômica chamada sorvete na mesa de jantar de um parente abastado. E a política: “todos têm de mexer com política, por causa de tia Aurélia e tio Conrado que são muito influentes (...) Os negros da Chácara, que sabem ler, são convencidos a votar no Dr. João da Mata para deputado.”
O modo de viver dos negros é com frequência esmiuçado e os recortes que dele faz a narradora formam um mosaico importante para a compreensão do período:
“Na Chácara moram ainda muitos negros e negras do tempo do cativeiro, que foram escravos e não quiseram sair com a Lei de 13 de Maio. Vovó sustenta todos (...) As negras, as que não bebem, são muito boas, e para terem seus cobres fazem pastéis de angu, sonhos e carajés para as festas de igreja e para a porta do teatro.” O preconceito explícito explica nosso perdurável e abjeto racismo em observações do tipo: “As negras da Chácara do tempo do cativeiro são todas pretas, mas não sei por que saiu uma branca e bonita. Chama-se Florisbela mas nós a tratamos de Bela. Ela casou com um negro que faz até tristeza. No dia do casamento houve uma mesa de doces e fazia pena ver Bela sentada perto do noivo, coitada”.
Fragmentos como esses acima transcritos foram produzidos pela autora entre os doze e quinze anos. São centenas, todos datados, e se no início são mais breves, alongam-se e se tornam mais reflexivos com o passar do tempo. Ou seja, à medida que a infância vai ficando para trás, os textos ganham densidade. Dotada de incomum capacidade de observação, detentora de vocabulário amplo e rico para sua idade, honesta com seus sentimentos (nem sempre os mais nobres), talentosa com as palavras, a escritora brilha nas descrições, nas frases simples mas elegantes, nas observações argutas que registra sem saber que faz história, contribuindo para o entendimento póstero de sua realidade de adolescente às portas de uma nova era de mudanças extraordinárias na vida das pessoas: o século XX.
As folhas manuscritas, encerradas simbolicamente com o último dia de dezembro de 1895, dormitaram numa caixa no fundo de uma gaveta por 49 anos. Foi o marido de Alice quem viu nelas valor literário e histórico e convenceu a mulher a transformar o diário em livro. A primeira edição esgotou-se em poucas semanas. Outras vieram, todas com grande tiragem e sucesso. Uma poeta de renome, Elizabeth Bishop, o traduziu para o inglês, onde também foi celebrado por sua originalidade e estilo. Marlise Meyer, doutora em literatura, fez o mesmo para o idioma francês.
Carlos Drummond de Andrade e João Guimarães Rosa, mineiros como Alice/Helena, escreveram que “Minha Vida de Menina” já nasceu clássico, no sentido de que sempre será lido com interesse porque fala àquilo que faz parte de nossa humanidade. No caso, a infância/adolescência, país que todos um dia habitamos. Mas penso que fala também da infância/adolescência do Brasil. E se esse período da existência de Helena Morley/Alice Brandt cumpriu-se com saúde física, emocional e psíquica, o que lhe garantiu uma vida adulta equilibrada e sólida (segundo se depreende de seu belo relato em nota à primeira edição), a sociedade brasileira não caminhou de forma semelhante em busca de desenvolvimento pleno. Os traumas históricos perduram, como feridas que ainda precisam ser tratadas e cicatrizadas. Ler o livro oferece a oportunidade de ver isso e encarar o tamanho do desafio que se tem pela frente.
Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras







